Fórum Jurídico
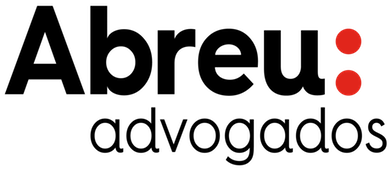 |
Comentário ao Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 28 de setembro de 2017 (Proc. n.º 10145/14.4T8LSB.L1.S1, 7ª Secção) – Contrato de prestação de serviço de empresário desportivo e inscrição na federação desportiva
Mafalda Miranda Barbosa
Doutora em Direito, Professora da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Membro e Investigadora do Instituto Jurídico da FDUC
Convidada Abreu Advogados
1. O caso decidido pelo Supremo Tribunal de Justiça em 28 de setembro de 2017
O caso decidido pelo Supremo Tribunal de Justiça, no acórdão de 28 de setembro de 2017, pode ser descrito em poucas palavras. O senhor A, empresário desportivo, instaurou contra Clube X – Futebol SAD, sociedade anónima desportiva (SAD), uma ação declarativa, pedindo que esta fosse condenada a pagar-lhe a quantia de € 1056400,00, acrescida de juros de mora vencidos, no montante de € 129785,25, e dos juros vencidos a partir da citação até pagamento integral. Para tanto, alegou que celebrou um contrato com a SAD ré, no âmbito do exercício da sua atividade de agenciamento de jogadores de futebol com licença FIFA, mediante o qual a SAD reconheceu a sua intermediação na contratação do jogador de futebol B, enquanto representante dos interesses dessa SAD. Nos termos do referido contrato, ficou estipulado que o clube lhe pagaria o valor correspondente a 10% da remuneração do contrato de trabalho desportivo do jogador, acrescido de 10% em caso de futura transferência, no montante global de € 891 900, 00, assim como lhe pagaria uma comissão de 10% sobre os direitos de imagem do jogador, no valor de € 164 500, 00. Tais pagamentos não foram efetuados. Instado a cumprir, a SAD excecionou a inexistência e nulidade do contrato, concluindo pela improcedência da ação. Mais exigiu, reconvencionalmente, que o empresário desportivo lhe pagasse a quantia de € 900 000, a título de indemnização pelos prejuízos sofridos pelo incumprimento do contrato que celebrou com o clube.
O Tribunal de 1ª Instância considerou a ação parcialmente procedente, condenando a SAD a pagar ao empresário desportivo a quantia de € 891 900, 00, acrescida dos juros de mora, à taxa legal, desde março de 2013 até integral pagamento. O pedido reconvencional foi considerado improcedente. A SAD recorreu para o Tribunal da Relação de Lisboa que, por acórdão de 16 de março de 2017, revogou a sentença e absolveu o réu do pedido. Inconformado, o empresário desportivo recorreu para o Supremo Tribunal de Justiça, que profere a sua decisão em 28 de setembro de 2017.
2. A decisão e a fundamentação do Supremo Tribunal de Justiça
O Supremo Tribunal de Justiça considerou que entre o empresário desportivo e a SAD tinha sido celebrado um contrato de prestação de serviço, na modalidade de mandato de âmbito desportivo. Na verdade, o recorrente teve intervenção, como intermediário entre a SAD e o jogador de futebol B, no contrato de trabalho desportivo, celebrado entre os últimos, em representação dos interesses do primeiro, sendo que o recorrente se dedica, com caráter habitual e escopo lucrativo, ao agenciamento de jogadores de futebol, encontrando-se registado como intermediário na contratação de praticantes desportivos, com licença de agente de futebol no 04/09/FBF/SG, numa federação desportiva de futebol, que não a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).
O contrato de prestação de serviço a que se alude não terá sido reduzido a escrito, embora o contrato de trabalho desportivo se lhe refira expressamente, o que levanta o problema da validade da relação jurídica que se estabeleceu. Com efeito, à data dos factos, era aplicável a Lei nº28/98, de 26 de junho, que impunha a referida forma escrita. Além disso, o empresário desportivo carece, para o exercício da sua atividade, de autorização das entidades desportivas, nacionais ou internacionais competentes, nos termos do artigo 22º/1 dessa Lei nº28/98. Mas, mais do que possuir licença como agente de futebol emitida pela federação de futebol estrangeira, tal como ocorreu, “os empresários desportivos que pretendam exercer a atividade de intermediários na contratação de praticantes desportivos devem ainda registar-se como tal junto da federação desportiva da respetiva modalidade que, para o efeito, deve dispor de um registo organizado e atualizado, nos termos do artigo 23º/1 Lei nº28/98”. Por outro lado, conforme sublinha o Supremo Tribunal de Justiça, “nas federações desportivas onde existam competições de caráter profissional tal registo será igualmente efetuado junto da respetiva liga. Perante estas disposições normativas, para além da autorização do exercício da atividade de empresário desportivo, este, em Portugal, tem ainda de estar registado na Federação Portuguesa de Futebol e na Liga de Clubes de Futebol Profissional”.
Foram estes os requisitos que faltaram no caso sub iudice. Concluiu, por isso, o Supremo Tribunal de Justiça que “a falta de tal registo acarreta a invalidade do contrato de prestação de serviço, na modalidade de mandato, celebrado com empresário desportivo, considerando-se o contrato juridicamente inexistente, nomeadamente por disposição expressa da lei. Trata-se, com efeito, de uma assinalável exigência legal, justificada pela enorme relevância social do setor desportivo e pelas e, por vezes, astronómicas quantias pecuniárias envolvidas, a requererem um empresário ou agente desportivo especialmente idóneo”.
Sendo inexistente, o contrato não produz qualquer efeito. Nas palavras dos juízes do nosso tribunal superior, “este contexto, não obstante a materialidade do negócio jurídico, este é totalmente inválido e, como tal, juridicamente inexistente, nos termos considerados no artigo 23º, no 4, da Lei no28/98. Perante a regulação normativa tão categórica, não sobra espaço para a dúvida que, por vezes tem tido eco, quanto ao tipo de invalidade do negócio jurídico. Face à sua inexistência jurídica, tal negócio não produz qualquer efeito jurídico, como é próprio do seu regime”.
Não produzindo qualquer efeito, nem podendo produzir, não faz sentido considerar - a propósito do contrato inexistente - o problema do abuso do direito ou uma eventual conversão do negócio, de acordo com o artigo 293º CC.
3. Enquadramento legal
No seguimento da aprovação do regulamento da FIFA sobre colaboração com intermediários (Regulations on Working with Intermediaries, 2014), que substitui o regulamento da FIFA dos agentes de jogadores (Player’s Agents Regulations, 2008), a FPF adotou o regulamento interno que rege a atividade de intermediação – o Regulamento de Intermediários da FPF de 2015.
Este regulamento estabelece requisitos mínimos que são impostos pelo Regulamento FIFA e consagra regras que regem a contratação de serviços de intermediação por parte de jogadores e clubes, tendo como objetivo a celebração ou renovação de contratos de trabalho entre um jogador e um clube e a celebração de contratos de transferência, temporária ou definitiva, entre dois clubes.
Nos termos do artigo 4º Regulamento de Intermediários da FPF, os intermediários desportivos são as pessoas singulares ou coletivas que, com capacidade jurídica, contra remuneração ou gratuitamente, representam o jogador ou o clube em negociações, tendo em vista a assinatura de um contrato de transferência ou de um contrato desportivo.
O jogador e o clube podem contratar os serviços de um intermediário quando negoceiem e celebrem contratos de trabalho desportivo ou contratos de transferência, incluindo eventuais alterações ou renovações. No processo de negociação, o jogador e o clube devem agir com o devido cuidado, tendo de, nomeadamente, antes do início da prestação dos serviços, certificar-se de que o intermediário está registado na FPF e tendo de assinar um contrato de representação. Na verdade, só podem exercer a atividade de intermediário as pessoas singulares ou coletivas registadas na FPF. No que respeita ao contrato de representação, o artigo 9º impõe que os elementos essenciais da relação jurídica entre o jogador ou o clube e o Intermediário constem expressamente do contrato de representação, celebrado antes do início da atividade por parte do intermediário. Exige-se a forma escrita, devendo o documento que formaliza o negócio conter obrigatoriamente os elementos constantes no artigo 9º/2 Regulamento de Intermediários da FPF.
O artigo 22º da Lei nº28/98, na data da interposição do recurso, dispunha que só podiam exercer a atividade de empresário desportivo as pessoas singulares ou coletivas devidamente autorizadas pelas entidades desportivas, nacionais ou internacionais, competentes. Por seu turno, o artigo 23º do mesmo diploma consagrava que os empresários desportivos que pretendessem exercer a atividade de intermediários na contratação de praticantes desportivos deveriam registar-se como tal junto da federação desportiva da respetiva modalidade, que, para este efeito, deveria dispor de um registo organizado e atualizado.
De acordo com os dados expostos anteriormente, o registo a que o preceito alude deveria ser feito junto da FPF. Importa, contudo, ter em conta o momento temporal que nos condiciona, no caso concreto. Na verdade, os factos reportam-se à intermediação de um contrato de trabalho desportivo celebrado em 2 de Julho de 2012.
Ora, o Regulamento de Intermediários da FPF entrou em vigor em 1 de Abril de 2015. Haverá, portanto, que ter em conta o quadro legal vigente antes desta data.
Anteriormente a 2015, a FPF tinha assumido como seu o regulamento da FIFA, na versão de 2008, que determinava como regra básica de atribuição de competência para a emissão de licença de agente desportivo o país da nacionalidade ou da residência habitual. Em caso algum a FIFA autorizaria a emissão de licença para um país diverso do da nacionalidade ou da residência do candidato. Significa isto que só podiam exercer a atividade de empresário desportivo as pessoas que, sendo portugueses ou residindo em Portugal há pelo menos dois anos, estivessem devidamente autorizadas pela FPF e estivessem inscritas no registo que esta organizasse. Assim autorizadas, poderiam exercer a sua atividade internacionalmente, o que não significava que a referida autorização pudesse ser obtida a nível internacional.
A conclusão mantém-se, portanto, inalterada: um empresário desportivo teria de estar registado na FPF. A celebração de contratos de mandato por um empresário desportivo não inscrito na referida federação vinha sancionado com a inexistência.
A Lei nº28/98 foi, entretanto, revogada pela Lei nº54/2017, de 14 de Julho. Nos termos do artigo 36º do diploma agora vigente, só podem exercer a atividade de empresário desportivo as pessoas singulares ou coletivas devidamente autorizadas pelas entidades desportivas, nacionais ou internacionais, competentes; e, nos termos do artigo 37º/1, considera-se que, sem prejuízo do disposto na norma anterior, os empresários desportivos que pretendam exercer a respetiva atividade devem registar-se como tal junto da federação desportiva, que, para este efeito, deve dispor de um registo organizado e atualizado. Mantêm-se as exigências legais.
Contudo, é introduzida uma diferença de não pequena monta. Enquanto, de acordo com o quadro legal aprovado em 1998, se considerava inexistente o contrato de representação ou intermediação celebrado com empresário desportivo que não se encontrasse inscrito no registo organizado da respetiva federação, o novo artigo 37º/3 comina como sanção para a falha a nulidade. É claro que o Supremo Tribunal de Justiça, atentas as regras de aplicação das normas no tempo, não tem de levar em consideração a alteração no regime jurídico; não obstante, a nota não deixa de ser relevante para efeitos da nossa posterior argumentação.
Na verdade, compreendida que está a estrutura problemática do caso objeto do acórdão em comentário, entendido o enquadramento legal da situação, as nossas reflexões terão de centrar-se na diferença entre a nulidade, enquanto forma de invalidade, e a inexistência, vista como uma sanção mais grave para determinada perturbação que afete o negócio jurídico. A este propósito – e antes de desenvolvermos o nosso percurso de fundamentação judicativa de uma decisão que se pretende justa e materialmente adequada -, importa salientar, a priori, que o Supremo Tribunal de Justiça andou mal ao qualificar a inexistência como uma forma de invalidade. Na verdade, a inexistência distingue-se da invalidade, a qual – para além de formas de invalidade mista – só integra a nulidade e a anulabilidade.
4. A inexistência enquanto sanção do ordenamento jurídico para acautelar certas situações especiais
O artigo 23º/4 Lei nº28/98 cominava com a inexistência o negócio jurídico celebrado com empresários desportivos que não se encontrassem registados na respetiva federação (no caso, na FPF).
Não obstante, o problema não pode dar-se por resolvido por mera invocação do critério legal. Como explicita Menezes Cordeiro, “as qualificações legais não são vinculativas para o intérprete aplicador: apenas o regime é decisivo”1. À mesma conclusão poderemos chegar mobilizando determinados pressupostos metodológicos. Na verdade, adequadamente compreendido o problema da interpretação jurídica, não temos de, diante de uma norma, ficar atidos ao sentido literal comunicado pelo legislador, mas, pelo contrário, encarando-a como uma norma problema, deveremos remetê-la, simultaneamente, para o problema do caso concreto que a convoca e para os princípios normativos em que se louva. Tal determina a possibilidade de formas de interpretação corretiva, de acordo com a teleologia da norma e de acordo com os fundamentos normativos.
Quer isto dizer que, perante o enunciado legal que fala de inexistência, haveremos de a) determinar quais as exigências de justiça do caso concreto; b) confrontá-las com a intencionalidade própria da categoria inexistência, tal como vem sendo pensada pela doutrina; e c) iluminá-las com os princípios que fundam o próprio sistema negocial, visto como um todo.
Importa, por isso, tecer algumas considerações acerca da inexistência, enquanto categoria jurídica2.
Pensada inicialmente, em França, no quadro do direito matrimonial, a inexistência viria cobrir, em face da regra segundo a qual o casamento só seria nulo nos casos previstos na lei, as hipóteses omissas relativas a casamentos celebrados entre pessoas do mesmo sexo, casamentos celebrados com falta de consentimento de um dos nubentes e casamentos que não obedecessem à forma legal3. Alargada a sua influência, posteriormente, para outros domínios do direito civil, a inexistência continua a ser hoje objeto de controvérsia entre os autores, não gerando a sua autonomização unanimidade na doutrina4.
Entre nós, Guilherme Moreira considerou que a inexistência se equiparava à nulidade, apenas a admitindo ao nível do casamento5. Menezes Cordeiro, na senda de Galvão Telles6, depois de explicitar que a inexistência de que se cura é a inexistência jurídica e não material, que seria puramente descritiva7, considera que a transposição da categoria para o negócio jurídico em geral conduz a resultados inadequados, já que se impediriam os efeitos jurídicos residuais que ainda podem ser produzidos por um negócio nulo, sustentando, assim, que “os pretensos casos de inexistência jurídica são, pois, casos de nulidade, sob pena de gravíssimas injustiças, enquadradas por puros conceptualismos”8.
Outros autores mostrar-se-iam recetivos à doutrina francesa da inexistência. Manuel de Andrade9 reconheceu o mérito de se admitir que os negócios nulos venham a produzir determinados efeitos laterais ou secundários, embora enquadre a temática no âmbito do contrato de casamento. Mota Pinto, por seu turno, admitiu que a figura teria interesse mesmo no quadro do negócio jurídico em geral, ao lado dos casos de nulidade e anulabilidade, para lidar com aquelas situações em que apenas existe a aparência de materialidade de um determinado negócio, faltando, no entanto, o corpus que o integra, ou seja, a própria materialidade que lhe subjaz10. Nestes casos, dever-se-ia impedir, por completo, a produção de quaisquer efeitos jurídicos, que ainda seriam possíveis por referência aos negócios nulos, v.g. a conversão, a redução, a proteção de terceiros de boa-fé, a proteção do adquirente de boa-fé em determinadas situações, a proteção do possuidor de boa-fé, etc. Também Oliveira Ascensão, Pedro Pais de Vasconcelos e Luís Menezes Leitão se mostram recetivos à aceitação da categoria11.
Em face da controvérsia, não temos dúvidas em considerar como preferível a segunda posição expendida. Na verdade, há determinados casos de tal modo graves em que, embora possa existir a aparência de materialidade de um determinado jurídico, a realidade não corresponde a essa noção. É o que acontece sempre que falhe um elemento essencial do negócio, não porque ele não esteja presente (o que determinaria a inexistência material, por exemplo, nas hipóteses de falta de uma declaração negocial), mas porque a sua mera presença não é corporizada pela materialidade correspondente. Pense-se na situação de coação física ou coação absoluta em que o sujeito, ao ser transformado, por meio de uma forma irresistível, num autómato, deixa de ter vontade de ação, não sendo o seu comportamento voluntário. Pense-se, ainda, nas hipóteses de uma declaração não séria ou de uma declaração sob nome de outrem.
Não podemos, contudo, ser indiferentes à gravidade dos resultados a que a categoria da inexistência nos conduz. A pessoa que tenha recebido o controlo material de uma coisa deixa de beneficiar das regras que protegem o possuidor de boa-fé; os terceiros que desconheciam sem culpa o vício que afeta o negócio anterior, situado na mesma cadeia de transmissões, deixa de ser tutelado, na sua confiança, pelo artigo 291º CC; deixa de ser possível recorrer ao instituto da conversão e da redução. E nessa medida, a inexistência deve ser de mobilização excecional, ficando reservada para aqueles casos em que a materialidade subjacente ao negócio não se verifica.
Ora, não é isso que ocorre ao nível do artigo 23º/4 Lei nº28/98. Na verdade, nenhum dos elementos essenciais do negócio jurídico deixa de estar corporizado. A falta de registo do empresário desportivo junto da respetiva federação não faz desaparecer o corpus que materializa o negócio jurídico. Trata-se, portanto, de uma circunstância que o legislador determina imperativamente para, atentos determinados interesses de lisura, retidão, honestidade, controlar o exercício da atividade em causa, donde a sua falta haverá de determinar a nulidade do negócio pela desconformidade ao ordenamento jurídico, mas não a inexistência daquele. A sanção contida no artigo 23º/4 Lei nº28/98 deve, portanto, interpretar-se no sentido da nulidade e não no sentido da inexistência, em conformidade com a regra geral que resulta do artigo 294º CC.
Não colhe, a este nível, a argumentação expendida pelo Tribunal da Relação de Lisboa que, convocando a ideia de legislador razoável, considera que este conhece a diferença entre a nulidade e a inexistência e, conhecendo-a, optou explicitamente pela segunda alternativa. Na verdade, não só o cânone metodológico do legislador deve ser desconsiderado (ou apenas considerado quando conforme ao pensamento jurídico), uma vez que as questões metodológicas não são da competência do legislador12, como a interpretação deixou de ser entendida como um processo hermenêutico, para se abrir a uma consideração problemático-normativa da própria norma.
Confrontando a intencionalidade problemática desta com a intencionalidade problemática do caso, concluímos que os interesses que a norma visa salvaguardar se cumprem pela mobilização da categoria nulidade e que, por outro lado, se frustraria a referida intencionalidade problemática se deixássemos sem tutela alguns dos interesses subjacentes às partes no negócio jurídico.
Acresce que dizer que a intenção do legislador ficou de tal modo clara que não se bastou com a estatuição da inexistência dos contratos de mandato celebrados com empresários desportivos, cuidando de deixar expresso que seriam também inexistentes as cláusulas contratuais que prevejam a respetiva remuneração desses serviços, implica laborar em dois erros. Em primeiro lugar, a Relação de Lisboa parece contrariar-se a si mesma, já que, depois de invocar o princípio do legislador razoável, se refere a uma técnica legislativa menos exemplar; em segundo lugar, remete o objetivo da interpretação para a procura da intenção do legislador histórico, num recuo ao subjetivismo histórico, esquecendo que a interpretação, em termos de objetivos, deve hoje ser entendida como uma interpretação dogmática e teleológica.
Ora, verdadeiramente, o que resulta da remissão da norma para o sistema jurídico como um todo, por um lado, e, por outro lado, da sua consideração à luz das finalidades que lhe presidem é que a referência à também inexistência das cláusulas que estabeleçam a retribuição devida pelos serviços prestados pelo empresário desportivo só se explica pela eventual possibilidade de, em certas situações, elas poderem ser cindidas da globalidade do negócio jurídico, operando-se em relação a elas uma hipótese de redução que o legislador quis postergar. Não obstante, a redução, enquanto instituto do direito privado, não pode ser chamada à colação quando o negócio seja inexistente.
Parece, portanto, haver boas razões para se defender que o negócio é nulo e não inexistente.
Igualmente pouco consistente parece ser a fundamentação do Supremo Tribunal de Justiça, quanto a este ponto específico. Em rigor, o acórdão em comentário deixa-se enredar em confusões conceptuais, tal como tínhamos adiantado. Pode ler-se no corpo do aresto que “deste modo, a falta de tal registo acarreta a invalidade do contrato de prestação de serviço, na modalidade de mandato, celebrado com empresário desportivo, considerando-se o contrato juridicamente inexistente, nomeadamente por disposição expressa da lei. Trata-se, com efeito, de uma assinalável exigência legal, justificada pela enorme relevância social do setor desportivo e pelas enormes e, por vezes, astronómicas quantias pecuniárias envolvidas, a requererem um empresário ou agente desportivo idóneo”.
Não só não faz sentido considerar que a inexistência é uma forma de invalidade13, como a justificação da solução com a enorme relevância social do setor desportivo parece não colher. É certo que, consoante nos explica Pedro Pais de Vasconcelos, a inexistência pode ser de três tipos, a saber: uma inexistência ôntica, que ocorre quando o negócio não foi de todo celebrado, não ocorreu, como nas hipóteses de coação física ou de declaração não séria; a inexistência qualificativa, que ocorre quando “o ato ou o negócio existem como algo, mas não enquanto tal”, redundando o problema numa questão de qualificação; e a inexistência por mera imposição da lei, que não teria um fundamento ôntico ou de qualificação, correspondendo “a um ato de autoridade e de hostilidade do direito que impõe, como consequência de vícios particularmente graves, uma sanção equivalente à inexistência”14. Simplesmente, não só a falta de registo a que se alude - e cuja importância não se nega, por força da necessidade de tutelar determinados interesses já referidos anteriormente – não corresponde a uma falha particularmente grave, como as hipóteses previstas no artigo 1628º CC, como se denota, aliás, pela alteração que o legislador introduziu quanto ao ponto, com a nova lei aprovada em 2017, que veio revogar o regime jurídico em análise, como o ato de autoridade em que se consubstancia a prescrição legislativa não pode deixar de se compaginar com o sistema jurídico privatístico globalmente considerado, pelo que a introdução da inexistência a este nível implicaria uma distorção não justificável.
Concluindo-se pela nulidade - e não pela inexistência - do negócio (aliás, determinada, igualmente, pela falta de forma legal exigida), abrem-se as portas à consideração de outros problemas. É que o negócio nulo é ainda apto a produzir determinados efeitos jurídicos.
5. Consequências da opção pela nulidade do negócio: a eficácia retroativa da declaração de nulidade e a relação de liquidação
A declaração de nulidade do negócio tem efeito retroativo, nos termos do artigo 289º/1 CC. As partes devem, de acordo com o dispositivo legal, restituir tudo o que tiver sido prestado, ou, se a restituição em espécie não for possível, o valor correspondente.
Nos contratos de prestação de serviços, de que o mandato é uma modalidade, é evidente que não é possível a restituição em espécie. Haverá, portanto, que entregar o valor correspondente. Ora, este valor é, conforme ensina Menezes Cordeiro, o valor da contraprestação acordada15. O autor preocupa-se, sobretudo, com os contratos de execução continuada, onde integra o mandato. Atentemos na lição do autor a este propósito:
“sendo um arrendamento declarado nulo, deve o senhorio restituir as rendas recebidas e o inquilino o valor relativo ao gozo de que desfrutou e que equivale, precisamente, às rendas. Ambas as prestações restitutórias se extinguem, então, por compensação, tudo funcionando, afinal, como se não houvesse eficácia retroativa nestes casos16”
Simplesmente, no caso em análise, a compensação a que se alude não pode ter lugar, exatamente porque a SAD ré não efetuou o pagamento do preço acordado. É claro que, sendo o negócio nulo, não terá de realizar a prestação. Mas terá de restituir ao empresário desportivo o que ele haja prestado a título de cumprimento, correspondendo esse valor ao montante convencionado. Estabelece-se, de facto, ao nível das prestações restituitórias, um verdadeiro sinalagma, que integra o que na doutrina alemã vem conhecida por relação de liquidação e que, entre nós, Mota Pinto designou por relação de repristinação17.
No caso em apreço, o valor máximo a ser recebido pelo empresário desportivo é de 5% do montante global do contrato, nos termos do artigo 24º/2 Lei nº28/98, salvo acordo em contrário que deverá ser reduzido a escrito no contrato. Não havendo formalização do negócio celebrado entre o empresário desportivo e a SAD, o julgador deve basear-se neste montante fixado por lei. Mas, independentemente do valor em causa, é inequívoco que a retroatividade da nulidade que se afirma obriga-nos a restaurar in pristinum o que não encontra causa justificativa (já que o negócio não produz efeitos) para ser alterado18. De outro modo, abrir-se-iam as portas a um enriquecimento injustificado por parte de um dos sujeitos da relação. É essa a hipótese que se verifica se a SAD não for condenada à restituição do valor da prestação de serviços efetuada pelo empresário desportivo. Por um lado, beneficiou da atuação do empresário desportivo; por outro lado, escusa-se ao pagamento dos valores acordados, mas só o faz depois de dessa mesma atuação retirar as correspondentes vantagens, numa clara atuação contrária à boa-fé, tanto mais que a SAD conhecia a situação de irregularidade em que se encontrava o empresário desportivo.
É claro que se poderia aventar a possibilidade de recurso às regras do enriquecimento sem causa para fazer face ao locupletamento injustificado19. No entanto, o instituto em questão é caracterizado pela sua natureza subsidiária. O artigo 474º CC consagra-a expressamente ao afirmar que “não há lugar à restituição por enriquecimento, quando a lei facultar ao empobrecido outro meio de ser indemnizado ou restituído, negar o direito à restituição ou atribuir outros efeitos ao enriquecimento”.
Na verdade, se é certo que o problema emerge pela constatação da existência de um enriquecimento injusto, não é menos certo que nem sempre o enriquecimento injusto pode ser visto como um enriquecimento sem causa, tout court, desencadeando a “aplicação” do regime previsto pelo legislador para discipliná-lo20.
Como salienta Leite Campos, “o princípio que proíbe o locupletamento injusto à custa de outrem é um dos princípios mais gerais do sistema jurídico. (…) é um aspeto da noção de direito, entendido como ordem justa(…)”. Mas, muitas vezes obsta-se a ele com recurso a “normas especiais - anulabilidade, gestão de negócios, responsabilidade civil – sem recurso direto ao enriquecimento sem causa”21.
Com isto reforça-se a posição que sufragámos. Na verdade, se o ordenamento jurídico tem ínsito a si um princípio que proíbe o enriquecimento injusto à custa de outrem, ao ponto de se consagrar um instituto genérico que visa corrigir intervenções patrimoniais injustamente processadas quando outro remédio não haja para elas, faz todo o sentido que se mobilizem os quadros normativos específicos para lidar com as deslocações patrimoniais injustificadas em caso de invalidade negocial. Ou seja, o recurso ao enriquecimento sem causa torna-se despiciendo exatamente porque o pagamento do valor correspondente à prestação do empresário desportivo que não pode ser restituída pela SAD garante o equilíbrio patrimonial que, de outro modo, seria afetado.
Esta solução é, aliás, compaginável com a intencionalidade do ordenamento perspetivado na sua globalidade. Pensemos nas hipóteses de resolução do negócio jurídico. Distinguindo-se claramente da invalidade por operar em relação a negócios válidos, por força de um facto posterior à celebração do mesmo, as duas figuras acabam por convergir na equiparação de regimes que é estabelecida pelo legislador. Ora, embora o artigo 433º ressalve hipóteses especiais de não retroatividade dos efeitos da resolução, contempladas no artigo 434º CC, a verdade é que a inexistência de tal eficácia nos contratos de execução duradoura ou periódica se explica com base na mesma intencionalidade aqui considerada. A resolução não afeta as prestações já efetuadas, exatamente porque não é possível, v.g. num contrato de arrendamento ou num contrato de prestação de serviços, restituir o que foi prestado por uma das partes a título de cumprimento. Donde, para se garantir o equilíbrio patrimonial, se impede que haja devolução das rendas ou outras prestações pecuniárias efetuadas.
Ora, estando em causa a nulidade do negócio, parece que o equilíbrio patrimonial que deve ser restabelecido, apagando qualquer alteração que deixe de ter causa justificativa, impõe, em determinadas situações, que se realizem prestações pecuniárias que, não se confundindo com o cumprimento dos deveres de prestação principal (que deixam de existir), podem com elas coincidir.
Conclui-se, portanto, que a SAD ré, em obediência à eficácia retroativa da nulidade e porque a prestação do empresário desportivo não pode ser restituída, deverá efetuar uma prestação de valor correspondente, com a limitação atrás enunciada.
6.O problema da redução e da conversão do negócio jurídico
a) Considerações genéricas acerca da redução e da conversão do negócio nulo
Tratando-se de um negócio nulo, a sua invalidação não impede, como se referiu, a produção de determinados efeitos jurídicos. Entre esses efeitos, encontramos aqueles que resultam da conversão e da redução do negócio jurídico.
A redução do negócio jurídico pode operar, nos termos do artigo 292º CC, diante de negócios parcialmente inválidos. Como a invalidade diz apenas respeito a uma parte do negócio, aproveita-se o restante conteúdo, em homenagem ao princípio da conservação dos negócios jurídicos. O nosso legislador, partindo, nesta matéria, de uma ideia de divisibilidade do negócio jurídico, consagrou a regra de que a redução só não terá lugar se se provar que o negócio jurídico não teria sido concluído sem a parte viciada. No fundo, o contraente que se opuser à redução tem que vir provar a vontade hipotética das partes. E ainda que essa prova seja produzida, haverá obrigatoriamente redução se “for conforme à boa-fé, numa apreciação atual, que o restante conteúdo do negócio se mantenha”22. É essa a solução que resulta do artigo 239º CC, que, disciplinando a matéria relativa à integração das lacunas contratuais, tem de ser articulado com esta problemática23.
Já ao nível da conversão, prevista no artigo 239º CC, questiona-se se, uma vez declarado nulo o negócio (ou considerado o negócio ineficaz24), se pode “reconstituir, com os materiais do negócio jurídico inválido, um outro negócio, cujo resultado final económico, embora mais precário, se aproxime do tido em vista pelas partes com a celebração do contrato totalmente inválido”25. Trata-se, aqui, continuando a acompanhar Mota Pinto, “de uma colaboração do ordenamento jurídico com a vontade das partes no sentido de dar expressão a uma vontade potencial, não formulada, alargando assim o campo de ação da autonomia privada”26.
O autor adere, portanto, a uma conceção dualista, que olha para a conversão no sentido da transformação de um primeiro negócio num segundo negócio, através do aproveitamento de alguns elementos daquele27. Outra é a perspetiva de Menezes Cordeiro, para quem há apenas um negócio; “simplesmente verificada uma falha que impeça a sua validade e eficácia plenas, impõe-se, pela interpretação, um conteúdo que não suscite tais óbices”28. Para o autor, “a conversão exprime (…) uma interpretação melhorada do negócio, de modo a dele fazer uma leitura sistemática e cientificamente correta”.
Tendo em conta os requisitos da conversão dos negócios jurídicos previstos no artigo 293º CC, a manutenção dos requisitos de forma e de substância necessários para a validade do negócio jurídico e a prova de que a vontade hipotético-conjetural aponta no sentido da conversão, Menezes Cordeiro reencaminha-nos para uma ideia de integração, pelo que aquela “vontade hipotética (…) - que constitui o motor da conversão - deve ser aferida segundo a boa-fé”29, o que nos aponta para hipóteses em que, independentemente da vontade hipotética, a boa-fé pode impor a conversão a que se alude30.
O dado revela-se de suma importância no quadro do problema concreto que estamos a analisar. Na verdade, a ser possível a consideração de um negócio sucedâneo do negócio preliminarmente celebrado entre o empresário desportivo e a SAD, a conversão impor-se-á por força da boa-fé, atenta a relação corrente de negócios entre as partes e o perfeito conhecimento que a sociedade desportiva tinha da falta de registo do empresário junto da FPF, requisito cuja exigência não poderia ignorar. Opor-se a essa conversão configuraria um claro comportamento abusivo do direito por parte do clube.
b) A eventual conversão do negócio celebrado entre o empresário de futebol e a SAD
A resposta que se encontre para a questão agora em análise - qual seja a de saber se o negócio celebrado entre a SAD e o empresário, uma vez considerado nulo, pode ser convertido - requer outro tipo de considerações.
Assim, haveremos de proceder, por meio da interpretação das declarações de vontade das partes, à qualificação do contrato concretamente celebrado. Só a partir daí será, de facto, possível equacionar outro negócio em que aquele se possa convolar e determinar, em relação a este, se se verificam ou não os requisitos da conversão.
Atentemos, então, no ponto.
Entre a SAD e empresário foi celebrado um contrato de prestação de serviços, nos termos do qual o segundo atuaria como representante dos interesses do primeiro contraente e como intermediário na negociação com o jogador B.
A questão que se coloca é a de saber se, na qualificação que se faça do negócio em questão, podemos integrá-lo dentro do tipo contratual que é o mandato, tal como decidiu o Supremo Tribunal de Justiça. Obriga-se o empresário desportivo a praticar um determinado ato jurídico por conta da outra parte? Ou estaremos aqui diante de um simples contrato de mediação?
A doutrina vem apontando com principal nota diferenciadora entre o mandato e o contrato de mediação a juridicidade do ato do mandatário, por oposição à atividade material prestada pelo mediador31.
Afirma Higina Castelo que “as semelhanças entre os dois contratos não são despiciendas. Em ambos os casos, alguém desenvolve uma atuação no interesse de outrem, tendo por finalidade a efetivação de um ou vários atos jurídicos (ainda que no caso da mediação a celebração destes não faça parte da prestação). Em ambos os casos também, aquela atuação pode englobar, a título acessório, atos jurídicos e/ou atos materiais”32. E acrescenta que “a circunstância de a atuação do mandatário poder englobar a do mediador – o mandatário deve praticar os atos, jurídicos ou simplesmente materiais, acessórios ou preparatórios do ato jurídico de que foi incumbido –, aliada à de o mandatário estar sujeito a não conseguir, afinal, ultimar o ato jurídico para o qual foi contratado, pode conduzir a que na prática seja difícil reconduzir um contrato concreto a uma ou a outra das espécies contratuais”33. A autora aventa mesmo a possibilidade de se olhar para a mediação como um meio mandato ou um mandato incompleto, para depois afastar a conceção no seio do nosso ordenamento jurídico. Na verdade, “no que à prestação característica respeita, o ato jurídico que é objeto do mandato é mais abrangente (contrato, negócio unilateral ou até simples ato jurídico) que aquele a que se dirige o contrato de mediação (contrato). Quando o mandato não tem por objeto a celebração de um contrato, a atividade preparatória do ato jurídico não pode assemelhar-se à atividade mediadora. Mesmo quando o ato a que o mandatário se obriga consiste na celebração de um contrato, pode não carecer de atividade preparatória ou carecer apenas de uma atuação que não consiste em encontrar interessado para o contrato”34. E, “no plano da contraprestação do cliente, as diferenças não permitem a confusão dos dois contratos. Enquanto a retribuição do mandatário depende apenas da realização da sua prestação, a do mediador não depende só do sucesso da sua atividade, dependendo ainda de uma ocorrência que está na disponibilidade do devedor e de um terceiro”35.
Do exposto, podemos retirar uma simples conclusão: entre a SAD e o empresário desportivo terá sido celebrado um contrato de mandato se, e apenas se, o segundo se obrigar a praticar um determinado ato jurídico por conta da contraparte. Ou seja, só haverá mandato se o empresário desportivo tiver sido incumbido de celebrar o contrato com o jogador por conta da SAD. No caso concreto, a atuação por conta da SAD com vista à celebração de um contrato deveria ser acompanhada da atuação em nome da sociedade desportiva. De facto, não podendo ser celebrado um contrato de trabalho desportivo entre um futebolista e uma pessoa singular, e referindo-se o mandato à celebração de contratos (e não à mera preparação do ato negocial posterior), parece linear a conclusão de que o mandato de que se cura é um mandato representativo. Não é, aliás, à toa que o Regulamento de Intermediários da FPF se refere sempre, neste domínio, aos contratos de representação, que assim parecem assumir-se no sentido técnico-jurídico que ela implica.
Ora, no caso concreto, não foram conferidos poderes de representação ao empresário. Nem foi celebrado o contrato entre o empresário e o jogador, com a obrigação de transmissão dos seus efeitos jurídicos para a esfera da entidade desportiva, pelo que dificilmente se poderá perspetivar a existência de um mandato.
Parece sim ter sido celebrado um contrato de mediação.
De todo o modo, a ter existido um mandato (para o que seria necessário provar a atuação por conta da SAD, que, pelo exposto, não poderia ser desacompanhada da atuação em nome da SAD), ele poderia ser convertido num contrato de mediação, nos termos do artigo 293º CC.
É que, embora diferentes, o negócio nulo por violação da imposição legal imperativa contém, por um lado, todos os requisitos de forma e de substância do negócio sucedâneo, e, por outro lado, a vontade hipotética das partes depõe nesse sentido.
O que aqui fica dito requer, no entanto, outras precisões.
No que ao primeiro requisito da conversão diz respeito, haveremos de considerar que, em rigor, o dever de registo artigo 23º Lei nº28/98 e a sanção da inexistência (entendida como nulidade) cominada para lidar com as situações em que ele não seja cumprido não abrangem o contrato de mediação. Em primeiro lugar, a lei fala explicitamente de contrato de mandato no nº4 daquele preceito; em segundo lugar, se com o cumprimento do dever se pretende assegurar a lisura e a honestidade da atuação do empresário desportivo, evitando a intermediação de sujeitos que acautelam mais os seus interesses do que os dos clubes que “representam”, então, haveremos de considerar que a ratio da norma apenas abrange aquelas hipóteses em que o sujeito atua por conta e em nome de outro e não aqueloutras em que aproxima futuros contraentes, deixando a última palavra em matéria de contratação para as partes.
Por outro lado, atento o segundo fundamento para a nulidade do negócio que considerámos ab initio - a falta de documento escrito que formalize o negócio –, haveremos de considerar que a exigência do artigo 9º Regulamento de Intermediários da FPF não se estende aos contratos que não envolvam a representação em sentido técnico-jurídico, enquanto atuação em nome de outrem.
No que ao segundo requisito concerne, a existência de uma relação de negócios anterior entre a SAD e o empresário desportivo em questão, no âmbito da qual aquele reconheceu a dívida para com este, numa situação análoga, mostra claramente que a vontade hipotética das partes vai no sentido da conversão. Aliás, tal conversão será imposta pela boa-fé, nos termos próprios do artigo 239º CC, caso a vontade conjetural a que se aluda seja diversa da que estamos a considerar.
Em rigor, se adequadamente compreendermos a conversão de acordo com a posição monista a que nos referimos supra, então haveremos de considerar que o problema é, afinal, o da interpretação-qualificação do negócio em termos tais que lhe possamos oferecer um conteúdo que não suscite óbices à sua validade, quando a isso não se oponha a vontade hipotético-conjetural das partes ou a boa-fé. Dito de uma forma mais direta, em face de eventuais dificuldades qualificativas do negócio celebrado entre a SAD e o empresário desportivo, devemos entender que estamos diante de um contrato de mediação e não de um contrato de mandato, salvaguardando-se a sua validade.
O que ficou dito requer, não obstante, um esclarecimento adicional. Na verdade, sabe-se que, no caso concreto, o empresário desportivo atuou no interesse da SAD. Ora, os autores têm sido veementes em apontar que a característica da imparcialidade – que inexistiria neste caso - configura uma nota essencial do contrato de mediação. Pinto Monteiro considera mesmo que a característica da imparcialidade permite distanciar o mediador do agente36; e Menezes Cordeiro afirma que “a mediação significa o ato ou efeito de aproximar voluntariamente duas ou mais pessoas, de modo a que, entre elas, se estabeleçam negociações que possam conduzir à celebração de um contrato definitivo”, o que implica que “o mediador não represente nenhuma das partes a aproximar”37. A imparcialidade de que se cura não é afastada pelo facto de o negócio de intermediação ser celebrado apenas entre o mediador e o solicitante. Pelo contrário, o primeiro atua de modo a manter a sua equidistância entre os sujeitos que aproxima38, nada impedindo que seja o cliente da entidade mediadora que deve, em princípio, pagar a remuneração. Mas, no caso concreto, torna-se evidente que o empresário desportivo atua em representação dos interesses da SAD, donde se legitima a dúvida: afastando-se a imparcialidade, será que podemos continuar a falar de mediação?
A este propósito, Higina Castelo diz-nos que “não creio adequado dizer-se que impende sobre o mediador um dever de conduta imparcial ou neutral. Nem da lei (seja da geral, seja da que regula o contrato de mediação imobiliária), nem da jurisprudência, nem dos usos do comércio, podemos extrair uma tal norma. Podemos, sim, dizer que a especificidade da atividade do mediador - com a sua faceta de ponte entre polos de interesses alheios, e como tal de recetor, portador e transmissor de declarações alheias – lhe impõe redobrados deveres de informação, cooperação e lealdade, decorrentes do dever geral de boa-fé, no seu relacionamento com clientes, potenciais clientes e potenciais contrapartes nos contratos visados pelos seus clientes”39. Mais acrescenta a autora que “o mediador tem uma atuação material que não permite a vinculação do cliente. Tanto não significa, porém, que o mediador tenha uma atuação imparcial ou neutra – o mediador desenvolve uma atividade a pedido do seu cliente e é por ele remunerado se o interesse deste for plenamente satisfeito. A imparcialidade, como característica da atuação do mediador, não é confirmada por dados da prática social e comercial”40.
No fundo, a imparcialidade de que se cura não seria requisito essencial para a configuração do negócio como um contrato de mediação. Temos dúvidas que, em geral, se possa afastar o critério de uma forma tão contundente. Mas já não as temos quando, confrontados com a impossibilidade de lidarmos a este nível com um mandato (que não poderia deixar de ser representativo, quando não foram atribuídos poderes de representação), vemos na mediação o tipo contratual mais próximo daquela que foi a vontade declarada pelas partes41.
Assim compreendidos os termos do problema, afasta-se, ainda, uma outra dificuldade. Na verdade, para quem temesse que a recondução da relação contratual firmada entre as partes ao contrato de mediação, retirando-o da alçada da obrigação legal de registo prevista no artigo 6º e da formalização negocial prevista no 9º Regulamento de Intermediários da FPF (na medida em que, nos termos do artigo 4º do citado diploma, o intermediário representa o clube ou o jogador e em que, nos termos do artigo 5º, se fala expressamente de atuação por conta e em nome de uma das partes da relação contratual, o que mostra que aquela representação é assumida em termos técnico-jurídicos), pudesse funcionar como uma forma de defraudar a lei, a consideração das características essenciais do contrato em causa – não só no tocante às prestações principais que a integram, como também por referência aos deveres laterais que a conformam – mostra que a menor ingerência do empresário desportivo na relação contratual final que se pretende estabelecer leva a que as cautelas impostas pelo legislador sejam também menores. No fundo, opera-se, por referência aos preceitos do Regulamento de Intermediários da FPF, o que se designa por assimilação por adaptação restritiva da norma: ainda que o mediador possa ser literalmente considerado um intermediário, para efeitos do regime jurídico aplicável deve entender-se que não há relação de pertença entre os dois termos. Nessa medida, não haverá qualquer fraude à lei: não só a qualificação correta do negócio é a de contrato de mediação, como a lei não proíbe todos os caminhos para se atingir um determinado resultado, mas apenas um deles.
7. O abuso do direito
Independentemente das clivagens na conformação do abuso do direito, este instituto - entendido como princípio normativo do sistema jurídico e que conhece consagração no artigo 334º CC - é hoje amplamente aceite pela doutrina e jurisprudência nacionais. Entendido como uma desconformidade do exercício do direito que formalmente se invoca com um princípio normativo do sistema que o sustenta, o abuso do direito pode ser percecionado para além dos estritos contornos com que nos é comunicado pelo preceito citado. No caso concreto, porém, a ideia do abuso parece vir comunicada pela desconformidade com o princípio da boa-fé.
Vejamos: entre os dois sujeitos existia uma relação corrente de negócios que é demonstrada pela anterior celebração de outros contratos, alguns dos quais resultaram em litígio. A SAD chegou mesmo – como se prova por sentença transitada em julgado – a pagar o valor correspondente aos serviços prestados pelo empresário desportivo no âmbito de uma relação contratual análoga à que se discutiu no acórdão em comentário. Por outro lado, caso fosse aplicável o Regulamento de Intermediários da FPF, a SAD estava onerado com o dever de atuação diligente, devendo, antes do início da prestação dos serviços, certificar que o Intermediário estava registado na FPF. Plenamente consciente de que o empresário desportivo em causa apenas estava registado junto da Federação de Futebol de outro país, a SAD procurou os seus serviços e beneficiou deles, à semelhança do que ocorrera no passado. Ao excecionar a inexistência ou a nulidade do negócio, a SAD atua não só em venire contra factum proprium como viola abertamente uma confiança que foi gerada junto da contraparte no contrato.
Haverá que compreender este venire contra factum proprium. Redutível à boa-fé, na medida em que esta imponha determinados deveres de conduta aos contraentes que se querem e presumem honestos, leais e corretos, os Tribunais superiores têm entendido tratar-se aqui de um comportamento atentatório do princípio da confiança43. O que nos permite concluir que em causa não estará apenas o não exercício de um direito durante um determinado lapso de tempo ou o procedimento contrário àquele que anteriormente se tinha manifestado, exigindo-se um plus, ou seja, a violação concreta das expectativas geradas e tornadas dignas de confiança. Donde não estaríamos diante de uma mera proibição ordenada pela boa-fé, mas de um resultado abusivo inspirado por aquela. O que se verificaria, afinal, era uma contradição clara entre a estrutura formal do direito que se mobiliza e a sua teleologia, a sua axiologia. E nesse sentido operaria o abuso do direito. Sem que os tribunais se tenham apercebido do iter de fundamentação percorrido para se chegar a este resultado material. Não se estaria aqui a convocar em primeira linha a boa-fé, mas a convocar um princípio normativo, o princípio da confiança, para sustentar a inadmissibilidade do exercício do direito que, por referência à situação material de base, entraria em contradição com a ideia de direito enquanto direito44. Particularmente importantes são as considerações de Pedro Pais de Vasconcelos acerca do abuso do direito. Mostrando-se muito crítico da conceção de abuso - que atribui a uma má doutrina e considera ser produto do silogismo judiciário e da estrita aplicação das normas -, o autor advoga a necessidade de se conter o abuso dentro de limites estritos, proscrevendo-se, assim, o abuso do abuso do direito45. São suas as palavras “A necessidade de corrigir determinadas soluções interpretativas levou à consagração do abuso do direito, surgindo um rio cada vez mais caudaloso de sentenças que, com fundamento no abuso do direito, inverteram, desviaram ou bloquearam o que de outro modo seria a pura aplicação da lei”47. Centrando-se no venire contra factum proprium, que adequadamente distingue da supressio ou surrectio, pela chamada à colação do binómio omissão v. ação, o autor chama a atenção que não basta, para que se constate o comportamento contraditório com o direito, a dilação temporal no exercício do direito, na medida em que tal perverteria o sentido da nulidade ao impedir o efeito jurídico pelo atraso na sua invocação. Exigir-se-ia que se verificassem outras circunstâncias. O sujeito que invoca a nulidade há-de ter de exercer o seu direito num quadro circunstancial tal que leve o outro contraente a convencer-se de que ele jamais irá invocar a invalidade do negócio. Designadamente, considera Pais de Vasconcelos, na senda do que a civilística tem proposto em matéria de proteção da confiança (projeção no ordenamento jurídico do princípio da confiança), que é necessário que a) se tenha gerado uma situação de confiança; b) que essa confiança seja justificada; c) que haja investimento na situação de confiança; d) que a situação de confiança seja imputável ao titular do direito abusado47 - 48_.
No caso concreto, todos estes pressupostos se verificam. A SAD, não podendo deixar de conhecer a situação do empresário desportivo, i.é, a sua legitimação junto da Federação de Futebol estrangeira, e tendo reiterado na manutenção (e renovação) das relações comerciais com aquele, gerou uma confiança não negligenciável a este nível, ao criar a aparência de aceitação da situação negocial de base.
Ora, a contrariedade entre o exercício de um direito que formalmente se invoca e um princípio normativo que informa e enforma todo o sistema privatístico – o princípio da confiança – não pode senão denotar o abuso do direito que se chama à colação.
Estando em causa a violação de normas imperativas, maiores problemas se levantam. Na verdade, a doutrina e a jurisprudência têm-se mostrado divididas no que toca à possibilidade de se chamar à colação a proibição do venire contra factum proprium e, por meio dela, o abuso do direito, sempre que em causa esteja a arguição de uma nulidade decorrente da violação da forma legal do negócio. Embora no caso concreto o que se problematize ultrapasse o âmbito de relevância do vício formal – porquanto a falta de registo não pode ser entendida nesse sentido, só configurando um vício de forma a falta de redução a escrito do contrato -, a verdade é que a ponderação não é despicienda.
Outras dificuldades poderiam ser comunicadas pelo facto de o negócio ser inexistente e não nulo. Se a posição (já afirmada pela jurisprudência) se percebe em geral – na medida em que ao negócio inexistente falta o corpus que permite falar materialmente num ato de vontade –, ela torna-se incompreensível por referência ao caso concreto. Mas isso significa, apenas, que se encontra (mais) um argumento que afasta a possibilidade de configurar a sanção prevista no artigo 23º/4 Lei nº28/98 como uma inexistência em sentido próprio.
A invocação do abuso do direito bloqueia a possibilidade de a SAD arguir a nulidade do negócio. Importa, contudo, não esquecer que estamos diante de uma invalidade que pode ser conhecida oficiosamente, nos termos do artigo 286º CC. Sem que isso nos constranja ou deite por terra a pretensão do empresário desportivo, quer porque os efeitos retroativos da nulidade, no caso concreto, impõem a entrega do valor correspondente à prestação de serviços ao empresário desportivo, quer porque o negócio pode ser convertido num outro válido, quer porque - verdadeiramente e depois de um percurso dialógico-argumentativo em que enfrentamos diversos nódulos problemáticos - podemos chegar à conclusão de que o contrato celebrado seria, ab initio, válido.
Não cremos, portanto, que tenha andado bem o Supremo Tribunal de Justiça na decisão que proferiu.
___________________________________
1 A. Menezes Cordeiro, Tratado de direito civil, II, 4ª edição, Almedina, Coimbra, 2014, 970.
2 Sobre o tema, cf. Mafalda Miranda Barbosa, “Cessante causa, cessat effectus: a relação de liquidação subsequente à invalidação do negócio e a problemática dos direitos de personalidade”, Boletim da Faculdade de Direito, vol. 93, tomo II, 2017, 703-751, que aqui se dá por reproduzido em muitos pontos, no que respeita à questão da inexistência.
3 A. Menezes Cordeiro, Tratado de Direito Civil II, 935; C. A. Mota Pinto, Teoria Geral do Direito Civil, 4ª edição por A. Pinto Monteiro e Paulo Mota Pinto, Coimbra Editora, Coimbra, 2005, 618
4 Cf. C. A. Mota Pinto, Teoria Geral do Direito Civil, 618; A. Menezes Cordeiro, Tratado de Direito Civil II, 925 s.
5 Guilherme Moreira, Instituições do Direito Civil Português, I, Imprensa da Universidade, Coimbra, 1907, 510.
6 I. Galvão Telles, Manual dos contratos em geral, Coimbra Editora, Coimbra, 2010, 333.
7 A este propósito, veja-se, igualmente, Pedro Pais de Vasconcelos, Teoria Geral do Direito Civil, Almedina, Coimbra, 2005, 573 s.
8 A. Menezes Cordeiro, Tratado de direito civil, II, 929.
9 Manuel de Andrade, Teoria Geral da Relação Jurídica, 2, Atlântida, 1953, 415.
10 C. A. Mota Pinto, Teoria Geral do Direito Civil, 619.
11 Oliveira Ascensão, Direito Civil – Teoria Geral, II, Coimbra Editora, Coimbra, 1999, 310 s.; Pedro Pais de Vasconcelos, Teoria Geral do Direito Civil, 576 s.; Luís Menezes Leitão, O enriquecimento sem causa no direito civil, 445.
12 Castanheira Neves, Metodologia Jurídica – Problemas Fundamentais, Coimbra Editora, Coimbra, 1995
13 Cf. Pedro Pais de Vasconcelos, Teoria Geral do Direito Civil, Almedina, Coimbra, 2005, 576 s., que especifica que o negócio inexistente é um nada; o negócio existente mas nulo é algo de inválido que tem ainda alguma eficácia jurídica, embora não negocial. A falta de perspetiva ontológica, induzida pela recusa positivista da metafísica, torna difícil distinguir a inexistência da nulidade
14 Pedro Pais de Vasconcelos, Teoria Geral do Direito Civil, 573 s
15 Menezes Cordeiro, Tratado, 936.
16 Menezes Cordeiro, Tratado, 936.
17 C. A. Mota Pinto, Teoria Geral, 625. A propósito da relação de liquidação e dos problemas que ela pode comportar, veja-se Mafalda Miranda Barbosa, “Cessante causa, cessat effectus: a relação de liquidação subsequente à invalidação do negócio e a problemática dos direitos de personalidade”, 701 s.
18 J. Oliveira Ascensão, Direito Civil – Teoria Geral, II, Coimbra Editora, Coimbra, 1999, 310 s.
19 No caso concreto, esta possibilidade parece ficar vedada por via das limitações em sede de recurso decorrentes do artigo 627º CPC. Isto não invalida que, materialmente, a solução seja pensável e que com base nela se possa argumentar. Na verdade, o facto de o Supremo Tribunal de Justiça ter afastado a possibilidade de consideração do regime do enriquecimento sem causa, por motivos processuais, não obsta a que o instituto não possa ser mobilizado como expediente argumentativo.
20 Cf., a propósito da distinção, entre enriquecimento injusto e enriquecimento sem causa, Júlio Gomes, O conceito de enriquecimento, o enriquecimento forçado e os vários paradigmas do enriquecimento sem causa, Porto, 1998, 81 s. e demais bibliografia aí citada, e 424.
21 Leite Campos, “Enriquecimento sem causa e responsabilidade civil”, Revista da Ordem dos Advogados, 1982, 39 e 41.
22 C. A. Mota Pinto, Teoria Geral, 637.
23 Nesse sentido, cf. C. A. Mota Pinto, Teoria Geral, 637 e Menezes Cordeiro, Tratado, 948.
24 Cf. Acórdão da Relação de Coimbra de 8-2-1989. A hipótese de conversão tem sido, igualmente, admitida, pela nossa jurisprudência, em relação a negócios ineficazes
25 C. A. Mota Pinto, Teoria Geral, 639.
26 C. A. Mota Pinto, Teoria Geral, 640.
27 Menezes Cordeiro, Tratado, 956.
28 Menezes Cordeiro, Tratado, 955.
29 Menezes Cordeiro, Tratado, 956.
30 C. A. Mota Pinto, Teoria Geral, 642.
31 Nesse sentido, Higina Castelo, O contrato de mediação, Almedina, Coimbra, 265.
32 Higina Castelo, O contrato de mediação, 303.
33 Higina Castelo, O contrato de mediação, 304.
34 Higina Castelo, O contrato de mediação, 305.
35 Higina Castelo, O contrato de mediação, 305.
36 António Pinto Monteiro, Contratos de Distribuição Comercial, Almedina, 2002, 102 s.
37 António Menezes Cordeiro, “Do contrato de mediação”, O Direito, 139, 2007, 517 s.
38 Cf. Fernando Batista de Oliveira, O contrato de mediação imobiliária, 34.
39 Higina Castela, O contrato mediação, 312.
40 Higina Castela, O contrato mediação, 312.
41 Não se esqueça, aliás, que ao abrigo da liberdade contratual as partes podem celebrar um contrato que não esteja previsto na lei.
42 Castanheira Neves, Questão de facto e Questão de Direito ou o Problema Metodológico da Juridicidade (ensaio de uma reposição crítica). A Crise, Almedina, Coimbra, 1967, 514-515.
43 Cf. Ac. STJ 13-11-1997, www.dgsi.pt; Ac. STJ 3-10-1991, BMJ, nº410, ano 1991, p. 776; Ac. STJ 23-9-1999, www.dgsi.pt; Ac. STJ 27-11-1197, www.dgsi.pt; Ac. STJ 8-5-1991, BMJ, nº408, p. 512; Ac. STJ 29-4-1993, CJSTJ, ano I, tomo II, p. 73; Ac. STJ 25-5-1999, www.dgsi.pt; Ac. STJ 29-10-2002, www.dgsi.pt.
44 Sobre o ponto, que aqui se dá por reproduzido, cf. Mafalda Miranda Barbosa, Estudos de Teoria Geral do Direito Civil, Princípia, 2017, 135 s,
45 Pedro Pais de Vasconcelos, “O abuso do abuso do direito – um estudo de direito civil”, Colecção Estudos Instituto do Conhecimento AB, nº4, 2015, 617 s.
Refira-se que não comungamos com o autor o criticismo em relação à figura do abuso do direito, nem entendemos que ele resulte de uma má compreensão do direito.
46 Pedro Pais de Vasconcelos, “O abuso do abuso do direito – um estudo de direito civil”, 617 s.
47 Sobre a tutela da confiança e os requisitos para que ela possa operar, cf. M. Carneiro da Frada, Teoria da Confiança e Responsabilidade Civil, Almedina, Coimbra, 2004, 585 s. No mesmo sentido, cf. Menezes Cordeiro, Tratado de Direito Civil Português, I – Parte Geral, tomo I, Almedina, Coimbra, 2010, 411 s.
48 Cf., novamente, Mafalda Miranda Barbosa, Estudos de Teoria Geral do Direito Civil, 136, que aqui se acompanha de perto.


