Fórum Jurídico
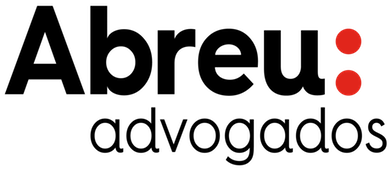 |
Comentário ao Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 12 de Maio de 2016 (Processo n.º 108/09.7TBVRM.L1.S1, http://www.dgsi.pt) – Futebol e responsabilidade civil: consentimento do ofendido e assunção do risco
Mafalda Miranda Barbosa, Doutora em Direito, Professora da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Membro e Investigadora do Instituto Jurídico da FDUC
1. O problema discutido no Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 12 de Maio de 2016
O problema discutido e decidido pelo Acórdão de Justiça de 12 de Maio de 2016 é, na sua factualidade, relativamente simples, ao contrário das questões dogmáticas que encerra, eivadas de uma especial complexidade, podendo relatar-se em poucas palavras.
A intentou contra o grupo desportivo X uma ação, demandando uma indemnização pelos danos sofridos na sequência de um acidente ocorrido no decurso de um jogo de futebol em que participava, na qualidade de atleta daquele grupo. De facto, um jogador da equipa contrária deu um pontapé na bola, que foi embater na cara de A, o que lhe causou lesões que determinaram uma incapacidade permanente para o trabalho. Foi também demandada uma seguradora, que cobria o risco de ocorrência de acidentes durante os eventos desportivos.
O tribunal de 1ª instância deu provimento ao pedido, mas a Relação, no Acórdão de 9 de Julho de 2015, absolveu o grupo desportivo, tendo alterado a sentença no que se refere ao montante indemnizatório devido pela seguradora. Foi, então, interposto recurso para o Supremo Tribunal de Justiça, que resultou no Acórdão ora em comentário.
2. A dupla via de argumentação seguida pelo Supremo Tribunal de Justiça
Afastada a possibilidade de mobilização das regras da responsabilidade contratual, o Supremo Tribunal de Justiça começou por tomar posição na divergência que tinha oposto o tribunal de 1ª instância ao tribunal da Relação. Enquanto o primeiro considerou que a prática de futebol configura uma atividade perigosa, podendo, portanto, chamar-se à colação o regime do artigo 493º/2 CC, a Relação recusou tal possibilidade. Neste ensejo, depois de procurar determinar o que é uma atividade perigosa, o coletivo de juízes estabeleceu um cotejo comparativo entre certas atividades desportivas – tidas por desportos praticados por atleta-contra-atleta, “particularmente agressivos e que têm por objetivo causar lesões no adversário” - e o futebol, que se poderia integrar nos “desportos “uns-contra-os-outros”, em que duas equipas adversárias se confrontam. O seu objetivo principal é o jogo, embora no decurso do mesmo possam ocorrer, e ocorrem frequentes vezes, lesões devidas, por regra, a conduta negligente de um atleta da mesma equipa ou da equipa adversária na disputa pela posse da bola e, bem assim, na projeção desta durante as jogadas”. Assim, “o grau de perigosidade que lhe está associado não é, contudo, comparável ao inerente a atividades como (…) o boxe e as artes marciais, bem como a alguns desportos aquáticos, automobilísticos e praticados na neve, os quais pela sua natureza e pelos meios envolvidos revelam maior suscetibilidade ou aptidão para provocarem lesões de gravidade nos seus praticantes e mais frequentes do que sucede noutras modalidades desportivas”. É claro que, como reconhecem, ao participar-se num jogo de futebol, é possível que uma pessoa saia lesada na sua integridade física até com alguma gravidade. Contudo, consoante esclarece o Supremo Tribunal de Justiça, a perigosidade da atividade não se afere com base na gravidade da lesão sofrida ou, sequer, com base na possibilidade de ocorrer uma lesão. Conclui-se, portanto, que não é possível responsabilizar delitualmente o grupo desportivo X.
A análise do Supremo Tribunal de Justiça não fica, ainda assim, concluída. Num segundo momento, o coletivo de juízes debruça-se sobre o problema do consentimento do lesado, enquanto causa de exclusão da ilicitude, colocando-o no mesmo patamar dialógico de figuras como o risco permitido, a heterocolocação em risco consentido e a assunção do risco. Independentemente do debate em torno da possível mobilização da categoria para o âmbito da prática desportiva, o Supremo Tribunal de Justiça consagra o entendimento segundo o qual a lesão não pode pela sua gravidade ir além do risco próprio da atividade desportiva, sob pena de se considerar que o consentimento é nulo, por ser contrário à ordem pública. A questão perde, contudo, interesse prático, atenta a conclusão a que previamente se tinha chegado.
3. O futebol como uma atividade perigosa?
Ainda que a solução encontrada pelo Supremo Tribunal de Justiça a propósito da possível qualificação do futebol como uma atividade perigosa, para efeitos da aplicação do artigo 493º/2 CC, possa ser a mais correta, é bom de notar que os argumentos encontrados para a sustentar não são absolutamente concludentes. Em rigor, aliás, o acompanhamento do processo que redundou no proferimento do acórdão que comentamos torna-o evidente: a questão tinha sido debatida, nos mesmos termos, nas instâncias inferiores, não se conseguindo eliminar todas as dúvidas.
Estamos, portanto, em crer que uma lograda clarificação do problema passe pela compreensão da estrutura delitual que é chamada a depor.
Em causa está a possível assimilação do âmbito de relevância problemático do caso pelo âmbito de relevância hipotético do artigo 493º/2 CC. Ora, quanto a este preceito muito haverá que discorrer.
Na verdade, os autores não são unânimes no que toca à sua interpretação, bem como à dos artigos 491º e 492º CC. Se tradicionalmente se entendia que eles consagravam presunções de culpa, invertendo o ónus probatório que, em regra, incumbe ao lesado, mais recentemente, surgem vozes no sentido de afirmar que, mais do que uma simples presunção de culpa, os preceitos contêm também uma verdadeira presunção de ilicitude e de causalidade.
O artigo 491º CC estabelece, segundo a doutrina tradicional, uma presunção de culpa das pessoas que, por lei ou negócio jurídico, sejam obrigadas a vigiar outras por virtude da incapacidade natural destas. Não se trata, portanto, de uma hipótese de responsabilidade objetiva. O preceito presume a culpa in vigilando dos sujeitos quando se verifique um dano. A presunção de culpa pode ser ilidida ou pela prova do cumprimento do dever de vigilância, ou pela prova de que os danos se teriam produzido de igual modo ainda que tal dever tivesse sido cumprido. Apesar de os autores invocarem a relevância da causa virtual a este propósito, cremos que o que verdadeiramente está em causa é uma ideia de âmbito do dever violado. A presunção de culpa recai sobre os que têm o dever vigiar aqueles que são naturalmente incapazes. Integram-se aqui os pais, os tutores e todos aqueles a quem, por contrato, seja incumbido tal dever (professores, diretores de estabelecimentos de ensino ou de estabelecimentos médicos de internamento). Essencial é que, por força do contrato, o dever de vigilância tenha sido efetivamente assumido por estes sujeitos1.
Uma questão particularmente interessante é a de saber como deve ser entendida a expressão naturalmente incapaz contida na norma. Na verdade, coloca-se o problema de saber se o incapaz a que se refere o artigo 491º CC é o incapaz de exercício de direitos. Cremos que, estando em causa a prática de atos materiais, o jurista não terá de ficar atido a uma categoria técnico-jurídica que tem o seu âmbito de aplicação bem delimitado. Por outro lado, importa não esquecer que há menores que são imputáveis em termos delituais e que as conceções dominantes podem determinar que o dever de vigilância, por exemplo, dos pais em relação a filhos menores que atinjam uma determinada idade (v.g. dezasseis anos) se atenue ou esvazie. Pense-se na hipótese do filho menor que vai estudar para fora da cidade onde os pais vivem ou de determinadas infrações cometidas em domínios onde os pais já não podem controlar a atuação dos filhos, que progressivamente se autonomizam. A resposta à questão passará, portanto, por saber em que medida existe o dever de vigilância e qual o seu âmbito, redundando, portanto, numa indagação imputacional. A este propósito, Maria Clara Sottomayor diz que “à incapacidade natural nem sempre corresponde a inimputabilidade. O artigo 491º, dada a sua fórmula geral, aplica-se (…) quer a menores imputáveis quer a menores inimputáveis. Basta, portanto, para fazer funcionar o regime do artigo. 491º, a prática, por parte do incapaz, de um facto antijurídico ou objetivamente contrário ao direito (ilícito), causador de danos a terceiro, não se exigindo a culpa daquele. A ser de outro modo, seriam precisamente os que mais carecem de vigilância (os inimputáveis) e que mais perigosos são para os terceiros, aqueles em relação a cujos atos não funcionaria a presunção de culpa das pessoas obrigadas à vigilância de outrem. Quando se trata de um incapaz imputável, este e a pessoa obrigada a vigiá-lo respondem solidariamente, nos termos do artigo. 497º do CC”2. Acrescentaríamos, portanto, que não só a incapacidade natural não corresponde à inimputabilidade, como não corresponde à incapacidade de exercício.
Os autores questionam se a culpa in vigilando pode ou não ser configurada como uma culpa in educando. A solução permitiria um alargamento da responsabilidade que recai sobre os progenitores. Henrique Sousa Antunes afirma que se “afigura (…) legítimo desligar a vigilância da educação, não só apenas na situação mais claramente percetível de o grau da referida vigilância stricto sensu depender da educação dada, mas no sentido de a má educação ser, igualmente, um cumprimento deficiente do dever de vigilância, fundamento de responsabilidade3. Cremos, contudo, que tal alargamento seria desmedido. Em primeiro lugar, o dever de vigilância exerce-se em relação a uma concreta situação; pelo contrário, o dever de educação dos pais em relação aos filhos não pode ser concretizado por referência a uma dada factualidade. Trata-se, ao invés, de um dever que modela a relação parental/filial ab initio e que irá condicionar o modo de ser e de atuar do sujeito mesmo depois de ele atingir a maioridade. Em segundo lugar, no processo de socialização, intervêm outros elementos para além do palco familiar. Em terceiro lugar, se a responsabilidade dos pais se fundasse com base na educação (ou falha na educação) oferecida, em rigor, porque ela se projeta por toda a vida do sujeito, haveria que responsabilizá-los mesmo depois do autor imediato do dano ter atingido a maioridade. É claro que a vigilância não se poderá desligar da educação. Simplesmente, parece-nos que a questão educacional só se atualizará por referência a um concreto dever de vigilância que, perante uma situação concreta, foi preterido4.
Por seu turno, o artigo 492º/1 CC estabelece uma presunção de culpa que recai sobre o proprietário ou possuidor de edifício ou outro tipo de obra que ruir por vício de construção ou defeito de conservação. Já o nº2 do artigo 492º CC dispõe que responde em lugar do proprietário ou do possuidor a pessoa obrigada por lei ou negócio jurídico a conservar o edifício ou obra, quando os danos forem devidos exclusivamente a um defeito de conservação. Tal como no artigo anterior, está em causa uma presunção de culpa, que não se confunde com uma hipótese de responsabilidade objetiva. Conforme esclarecem Pires de Lima e Antunes Varela5, o preceito aplica-se não só aos danos causados por edifícios, mas também por outras obras, o que significa que se integram no seu âmbito de relevância os danos causados pela ruína de muros, paredes divisórias, pontes, aquedutos, canais, albufeiras, colunas, postes, antenas, andaimes, desde que a obra se encontre ligada ao prédio ou ao solo e, portanto, não seja uma coisa móvel. No entendimento dos autores citados, também é assimilada pelo preceito a queda de partes componentes ou integrantes, como uma antena ou um para-raios. No que respeita ao âmbito subjetivo da responsabilidade, a doutrina defende que a solução mais correta parece ser a de responsabilizar solidariamente o proprietário e o possuidor e não o de responsabilizá-los alternativamente6. Cremos que essa responsabilidade solidária só pode ser defendida em concreto, consoante os contornos da posição que efetivamente proprietário e possuidor ocupem. Importa, de facto, não esquecer as hipóteses em que a transferência da propriedade desempenha uma mera função de garantia7. No nº2 do artigo 492º está contemplada a responsabilidade daqueles que, por lei ou negócio jurídico, são obrigados a conservar o edifício, quando os danos resultem exclusivamente de um defeito de conservação. Integram-se aqui, por exemplo, os usufrutuários, os titulares dos direitos de uso e habitação8. A inclusão dos arrendatários ou dos comodatários ficará dependente da análise do próprio regime contratual que une as partes. Essencial é considerar quem é que efetivamente detém a esfera de risco/responsabilidade. O que se extrai da interpretação do artigo 492º CC, no seu todo, é a confirmação da lição em matéria extracontratual: a responsabilidade recai sobre aquele que titula uma esfera de risco/responsabilidade que, neste caso e fruto de uma especial técnica normativa, está identificada previamente pelo legislador: ou se opera a transferência do dever de prevenção do perigo, considerando-se que o caso é assimilado no seu âmbito de relevância pelo nº2 do preceito (e o proprietário não é responsável); ou não se opera tal transferência e a solução é ditada pelo nº1 da mesma norma, donde será o proprietário (ou o possuidor) a responder. Conclui-se, por isso, que não basta invocar que o proprietário ou possuidor contratou um terceiro para cumprir o dever de segurança no tráfego para que ele veja excluída a sua responsabilidade9.
De modo semelhante, o artigo 493º consagra diversas presunções de culpa. No nº1 do preceito, presume-se a culpa de quem tiver em seu poder coisa móvel ou imóvel, com o dever de a vigiar, e de quem tiver assumido o encargo da vigilância de quaisquer animais. No nº2 do artigo, presume-se a culpa de quem cause danos no exercício de uma atividade perigosa, pela sua própria natureza ou pela natureza dos meios utilizados. Estamos diante de presunções de culpa e não da consagração de hipóteses de responsabilidade objetiva. Outra poderia ter sido a solução adotada pelo legislador português, sobretudo no que respeita aos danos provocados no exercício de uma atividade perigosa. Na verdade, para além de outros ordenamentos jurídicos, há que ter em conta propostas no sentido da consagração de uma ampla cláusula geral de responsabilidade pelo risco, que passaria, exatamente, pela consideração ou da perigosidade da coisa, ou da perigosidade da atividade10.
A presunção de culpa a que se refere o nº1 implica que o sujeito seja titular do dever de vigilância sobre a coisa ou sobre os animais. Não tem, portanto, de se tratar do proprietário da coisa ou animal, uma vez que um terceiro pode ter assumido esse encargo. De notar, ainda, que o destinatário da norma não se confunde com aquele que é abrangido pelo âmbito de relevância do artigo 502º CC, no qual se prevê, efetivamente, uma hipótese de responsabilidade objetiva pelos danos causados por animais11.
A definição de atividade perigosa, para efeitos do nº2 do artigo 493º, não é oferecida pelo legislador, cabendo ao julgador concretizar o conceito em face dos casos decidendi. A perigosidade de uma atividade deve aferir-se segundo as regras da experiência. É perigosa uma atividade que, segundo aquelas regras, envolve uma grande propensão de ocorrência de danos. Note-se, ademais, que a perigosidade deve ser entendida objetivamente, deixando-se de lado meros temores pessoais de uma potencial vítima. Além do mais, se considerarmos que todos os comportamentos, atuações e objetos são potencialmente perigosos, deve ser por referência às circunstâncias do caso decidendum que se qualifica o carácter perigoso ou não da atuação. A experiência jurisprudencial tem densificado a noção, oferecendo exemplos de atividades caracterizadas pela sua perigosidade12. Mas nem sempre é fácil a determinação da perigosidade da atividade, ao ponto de se assistirem a complexas discussões doutrinas na matéria. Assim, por exemplo, em matéria de condução de veículos automóveis e em matéria de ato médico13.
Se estes são os dados mais ou menos sedimentados acerca dos preceitos, outros, como anunciado, assumem maior complexidade.
Alguma doutrina tem vindo a salientar que as referidas presunções de culpa encerram também presunções de causalidade. Outros autores, como Menezes Cordeiro, vão mais longe e sublinham que elas coenvolvem, igualmente, uma presunção de ilicitude, traduzindo-se na consagração do modelo da faute no nosso ordenamento jurídico.
De facto, como presumir a culpa nos termos do artigo 491º CC sem presumir concomitantemente a violação do dever de vigilância? Também ao nível do artigo 492º CC, a presunção de culpa permitiria presumir a própria ilicitude, uma vez que, existindo um determinado dever, a sua violação não pode deixar de ser entendida como contrária à ordem jurídica. Seria, nessa medida, o modelo da faute a ser consagrado no artigo 492º CC. In fine, como compreender o artigo 493º CC? Na interpretação do perigo, e atenta a natureza arriscada das sociedades hodiernas, há que se tratar de um especial perigo – um risco que ultrapasse o limiar da normalidade. Ora, em face de tais perigos qualificados, a pessoa tem de adotar todas as medidas de cuidado para salvaguarda do outro. Não o fazendo, está a atuar em contravenção com um princípio da precaução ou prevenção – civilisticamente compreendido –, permitindo desvelar o abuso do direito (a liberdade de atuação do sujeito é exercida em contradição com o fundamento normativo da própria normatividade). Portanto, o artigo 493º/2 CC consagra a faute e implica que a dita causalidade seja entendida no sentido da previsibilidade (os danos em atenção aos quais previsivelmente a pessoa deveria ter conformado a sua conduta no respeito ao seu semelhante são os danos indemnizáveis). Ao presumir-se a culpa, presume-se a violação dos deveres que, atenta a situação em que surgem, não podem ser senão compreendidos por referência a um abuso de uma liberdade. Isto permite que se conexione o disposto no artigo 493º CC com a ilicitude assente num modelo híbrido. Tal não obsta a que possa haver, porém, violação de um direito absoluto. É, por isso, possível convocar o preceito no sentido de presumir a culpa e, concomitantemente, presumir a imputação objetiva. Não se trata de uma dupla possibilidade interpretativa da norma, mas da faculdade reconhecida ao lesado de mobilizar simbioticamente mais do que um fundamento para alicerçar a sua pretensão indemnizatória. Se tal é permitido no quadro do concurso de modalidades de responsabilidade civil, deve também ser autorizado quando concorram modalidades de ilicitude delitual. Assim, e neste caso, a restrição da hipótese ressarcitória à verificação de uma lesão do direito absoluto autorizaria a que o preenchimento da responsabilidade fosse para além dos danos previsíveis.
Se nenhuma dúvida nos resta quanto à melhor interpretação do artigo 493º CC, há, porém, que estar atento às restantes normas. Pois que, se é verdade que a presunção da violação de certos deveres faz desencadear, simultaneamente, a presunção de uma atuação contrária ao ordenamento jurídico, não parece que haja - v.g. no tocante ao artigo 491º CC - autorização do direito positivo para se ir para além da violação de posições dotadas com eficácia erga omnes.
A consideração da estrutura valorativa do artigo 493º/2 CC permite-nos perceber que, não obstante o perigo que a atividade possa encerrar, não se pode mobilizar o preceito quando não se possa dar por resolvida (ainda que em termos preliminares) a questão imputacional a partir da simples contemplação do resultado.
Tentemos perceber o que assim fica dito. Se A inicia uma tarefa de construção com explosivos, verificando-se um dano, podemos presumir a sua culpa. Ao fazê-lo presumimos, também, a ilicitude, dado que não é possível considerar que a pessoa - inserindo-se no contexto de uma atividade propensa a gerar danos - não adequou a sua conduta segundo padrões de cuidado com o outro e que não agiu em abuso da sua liberdade. E, assim sendo, presumimos, também, a causalidade, entendida como imputação, na medida em que o dano que ocorre é, afinal, um daqueles que deveria ser obliterado com o cumprimento dos deveres cuja violação se presume. É, aliás, isso que sustenta a presunção consagrada legislativamente, porque se o dano fosse de outro tipo não faria sentido dela lançar mão.
Esta particular ilicitude assim desvelada não só coenvolve dados tradicionalmente estranhos à sua essência, v.g. a previsibilidade e a exigibilidade, como implica uma estrutura relacional em que o agente cria a esfera de risco ou aumenta exponencialmente uma já existente. Porque só assim é discernível uma estrutura valorativa que justifique, em termos de imputação, o abandono da bipartição entre a ilicitude e a culpa e a adesão a algo próximo da faute francesa. Ora, salvo raras exceções, por referência às quais o problema terá de ser reequacionado, a participação num jogo de futebol não aumenta extraordinariamente o nível de perigo já existente para os demais participantes, o que quer dizer que por referência aos jogadores de futebol não é possível mobilizar o artigo 493º/2 CC.
Haverá, no entanto, que tentar perceber se a solução é viável por referência a quem organiza o evento desportivo e por referência ao responsável pela equipa que o desportista integra.
No que à primeira hipótese respeita, há que considerar que ultrapassa o âmbito e a intencionalidade problemática do caso que é decidido pelo Supremo Tribunal de Justiça no acórdão em comentário. Por outro lado, a resposta que para ela se encontre ficará dependente do tipo de evento desportivo - e das condições específicas dele - que esteja em causa. Mas, em qualquer caso, tratar-se-á de um problema que avultará preferencialmente no quadro de danos sofridos pela assistência ou no quadro de danos que resultem da organização/conceção do evento em si mesmo. Ou seja, e dito de um modo mais direto, a considerar-se perigosa a atividade, seria a atividade de organização do evento e não o jogo em si mesmo, o que só se verificaria em situações excecionais.
No que à segunda hipótese concerne, a resposta não pode ser senão negativa. É que, ainda que a utilização de um desportista numa qualquer competição possa aumentar o risco de um dano para o próprio, a responsabilização do sujeito que detém a equipa não pode presumir-se a partir da verificação daquele. Se tal presunção tivesse lugar, presumir-se-ia, também, a causalidade/imputação. Simplesmente, a voluntariedade do comportamento do lesado não pode deixar de ser tida em conta a este propósito, em termos que infra explicitaremos. É claro que a mobilização da presunção de culpa (ou de qualquer presunção de culpa) não torna definitiva a resposta que se possa encontrar para o problema imputacional. Simplesmente, haveremos de ter em conta dois dados: a) em primeiro lugar, a presunção de culpa de que agora curamos implica – segundo aquela que nos parece ser a melhor doutrina – uma presunção de causalidade/imputação; b) em segundo lugar, a compreensão da estrutura e intencionalidade do preceito, do artigo 493º/2 CC, mostra-nos que ele é predicado por um desvalor de conduta que quadra mal com a participação voluntária do sujeito numa qualquer atividade.
A este propósito importa, ainda, tecer algumas considerações adicionais. Assim, há que ter em conta que os argumentos apresentados servem, mutatis mutandi, para excluir a possibilidade de se aplicar a presunção de culpa aos adversários na competição. Por outro lado, há que esclarecer que, em rigor, a tentativa de responsabilização da pessoa coletiva, no quadro da responsabilidade extracontratual, implicaria a análise da eventual responsabilidade de um seu agente, funcionário ou titular de órgão, nos termos do artigo 500º CC, não tendo sido debatido o problema pelo Supremo Tribunal de Justiça. A alternativa seria, numa solução que ainda não atingiu o grau de reflexão necessário no seio da doutrina civilística, a possibilidade de se lançar mão da ideia de culpa de organização. In fine, haverá que tentar perceber em que medida o que assim fica expendido vale para outro tipo de desportos, mais violentos, em relação aos quais a jurisprudência parece mais generosa no que toca à chamada à colação da presunção do artigo 493º/2 CC. Pensamos, por exemplo, e de acordo com o que se pode ler no aresto em comentário, no boxe, nos desportos radicais, etc.
Ora, também aí, a participação voluntária do lesado na competição - tida como homem-contra-homem - não pode deixar incólume o juízo decisório que se leve a cabo. Na verdade, embora a probabilidade de surgimento do dano seja grande, pergunta-se se a partir da sua constatação se pode simplesmente presumir a culpa de um sujeito e, com ela, a ilicitude do seu comportamento e a imputação da lesão a este, ainda que este juízo imputacional - reforça-se este ponto - seja provisório (e necessite de ser complementado pelo cotejo das diversas esferas de risco que dialogam no caso concreto). Ora, é exatamente este segmento problemático que nos levanta as maiores dúvidas. É que a intencionalidade do preceito aponta-nos para, com base na elevada probabilidade de surgimento da lesão, um desvalor de conduta que nos aproxima do sistema da faute preenchida pela previsibilidade daquele dano. E a verdade é que este dano pode, atenta a natureza do desporto, surgir independentemente da violação de qualquer dever de cuidado, por um lado; e, por outro lado, e por isso, ele radica na decisão voluntária do sujeito.
Assim sendo, concordando-se com a decisão do Supremo Tribunal de Justiça de não aplicar ao caso sub iudice a presunção contida no artigo 493º/2 CC, fazemo-lo com fundamentos diversos, o que pode implicar que, em face de outras constelações fácticas, a nossa solução pudesse ser diversa14.
4. O relevo da participação voluntária do futebolista na competição desportiva
Explicitámos que o facto de o sujeito ter participado voluntariamente na competição desportiva (futebolística) haveria de ser tido em conta para se ponderar se o artigo 493º/2 CC pode (ou deve) ser aplicado à prática do futebol.
Se este não fosse um dado importante, sempre haveria de recordar que a voluntariedade da participação pode, inclusivamente, ser perspetivada não ótica da ilicitude, fazendo-a excluir. É esse o entendimento do Supremo Tribunal de Justiça que, sem aprofundar a temática, acaba por admitir que uma possível solução é ver no ato voluntário do sujeito uma forma de consentimento.
Tal consentimento seria, a aceitar-se a sua operatividade nesta sede e por esta via, fundamental, já que com o afastamento da ilicitude não seria sequer possível equacionar o problema da responsabilidade.
A este propósito, convém, não obstante, ser cautelosos. Na verdade, a doutrina tem-se mostrado crítica deste entendimento. Em causa está uma situação em que o lesado, voluntariamente, se autocoloca em risco. Ora, as noções de autocolocação em risco e de heterocolocação em risco têm suscitado dúvidas entre os autores15.
Tornadas célebres pela doutrina penalista, relevaram sobretudo para esclarecer em que medida houve ou não, atento o âmbito dele, preenchimento do tipo legal. Razão bastante para não serem amplamente sistematizadas ao nível civilístico e para, quando o são, darem origem a discrepâncias doutrinais e jurisprudenciais de que importa dar conta. Originariamente, a sua transposição para o quadro da responsabilidade civil operou-se por via da recondução das figuras para o consentimento do lesado, numa orientação jurisprudencial que haveria de receber o repúdio posterior de autores como Larenz16. Tal ambivalência doutrinal, associada a uma nem sempre clara eficácia das figuras17, arrasta consigo a questão de saber se a operacionalidade delas se derrama em sede de culpa ou de ilicitude18.
Estamos em crer que é por via da imputação que deve ser pensado o problema: não é a culpa que surge diminuída por intermédio da atuação do lesado; não é a ilicitude, polarizada no resultado, que se apaga; mas o nexo de imputação ou nexo de responsabilidade, que permite reconduzir aquele resultado lesivo - em que se consubstancia o juízo de desconformidade com o ordenamento jurídico - ao comportamento do lesante, que se exclui. Sendo a atuação de cada um dos sujeitos intervenientes livre, é uma esfera de responsabilidade - sem a qual a autonomia não vai pensada - que é exercitada, sendo mister descobrir, no confronto entre as duas, qual funciona como polo de atração do evento danoso sobrevindo. Para tanto, entram em jogo os deveres conformadores da liberdade positivamente alicerçada - os deveres do tráfego - para, na análise deles em face das circunstâncias do caso concreto, percebermos qual o seu âmbito e finalidade. Ou seja, quando pudermos reconhecer na conduta do lesado um comportamento livre, há que, em simultâneo, determinar se os deveres do tráfego que preenchem a esfera de responsabilidade do lesante se estendem à obliteração da lesão verificada e, concomitantemente, se os deveres que sobre o lesado impendem para proteção da sua própria esfera foram ou não postergados19.
a) Pressupostos de inteligibilidade da posição sustentada.
O que assim fica dito pressupõe um dado entendimento acerca da questão da causalidade, que não podemos desenvolver pormenorizadamente a este ensejo20. Parece-nos, contudo, essencial aflorar as suas linhas básicas de inteligibilidade.
Tradicionalmente, o nexo de causalidade era entendido de forma unívoca, estabelecendo a ligação entre a conduta ilícita e culposa e os danos sofridos pelo lesado. Não obstante, os autores acabam por evidenciar - de forma mais ou menos clara - que este liame era chamado a cumprir uma dupla função: ao mesmo tempo que seria entendido como um pressuposto da responsabilidade, era visto como um problema atinente ao cálculo da indemnização. Fruto da boa influência sofrida de além-fronteiras, a doutrina portuguesa passou a distinguir, mais recentemente, dois nexos de causalidade. Melhor dizendo, o nexo de causalidade comunga, naquela que nos parece ser a melhor visão do problema, uma natureza binária. Lado a lado concorrem a causalidade fundamentadora da responsabilidade e a causalidade preenchedora da responsabilidade. A primeira liga o comportamento do agente à lesão do direito ou interesse protegido21; a segunda liga a lesão do direito ou interesse protegido aos danos consequenciais (segundo dano) verificado. A bifurcação a que se alude é análoga à estabelecida no quadro do ordenamento jurídico germânico. Distinguem, aí, os autores a haftungsbegründende Kausalität da haftungsausfüllende Kausalität22.
Em segundo lugar, a causalidade deixa de poder ser pensada em termos naturalísticos, ainda que normativizados, para ter de ser compreendida à luz da intencionalidade predicativa da juridicidade. Isto significa que, verdadeiramente, o que nos importa não é uma ideia de ligação causa-efeito, mas uma ideia de imputação para a compreensão da qual se tem de convocar o sentido ético-axiológico do direito, assente na pessoa livre e responsável.
Na construção de um modelo que responda a estas exigências e faça face às aporias em que nos enredamos quando tentamos resolver o problema causal através das doutrinas tradicionais (conditio sine qua non, causalidade adequada ou finalidade da norma), assumimos uma perspetiva diversa. A própria ação, de onde se parte, deve ser vista como uma categoria onto-axiológica o que, no diálogo com a pressuposição do risco, nos permite inverter alguns dos aspetos tradicionais do problema. Assim, e desde logo, podemos afirmar que o filão fundamentador da imputação objetiva não pode deixar de se encontrar numa esfera de risco que se assume. Não basta contemplar a esfera de risco assumida pelo agente de uma forma atomística, desenraizada da tessitura antropológico-social e mundanal em que ele está inserido. Dito de outro modo, e relacionando-se isso com o pertinentemente aceite em matéria de definição da conduta juridicamente relevante, salienta-se aqui que, porque o referencial de sentido de que partimos é a pessoa humana, matizada pelo dialéctico encontro entre o eu, componente da sua individualidade, e o tu, potenciador do desenvolvimento integral da sua personalidade, há que cotejá-la com a esfera de risco encabeçada pelo lesado, pelos terceiros que compõem teluricamente o horizonte de atuação daquele, e ainda com a esfera de risco geral da vida. Ao que, aliás, não será também estranho o facto de todo o problema vir enervado pela teleologia primária da responsabilidade delitual, ou seja, pelo escopo eminentemente reparador do instituto. A pessoa, ao agir, porque é livre, assume uma role responsibility, tendo de, no encontro com o seu semelhante, cumprir uma série de deveres de cuidado. Duas hipóteses são, então, em teoria, viáveis: ou a pessoa atua investida num especial papel/função ou se integra numa comunidade de perigo concretamente definida e, neste caso, a esfera de risco apta a alicerçar o juízo imputacional fica a priori desenhada; ou a esfera de risco/responsabilidade que abraça não é suficientemente definida para garantir o acerto daquele juízo. Exige-se, por isso, que haja um aumento do risco, que pode ser comprovado, exatamente, pela preterição daqueles deveres de cuidado. Estes cumprem uma dupla função. Por um lado, permitem desvelar a culpa (devendo, para tanto, haver previsibilidade da lesão e exigibilidade do comportamento contrário tendo como referente o homem médio); por outro lado, alicerçam o juízo imputacional, ao definirem um círculo de responsabilidade, a partir do qual se tem de determinar, posteriormente, se o dano pertence ou não ao seu núcleo. A culpabilidade não se confunde com a “causalidade”. Pode o epicentro da imputação objetiva residir na imputação subjetiva firmada, sem que, contudo, os dois planos se confundam. Condicionam-se dialeticamente, é certo, não indo ao ponto de se identificar. O condicionamento dialético de que se dá conta passa pela repercussão do âmbito de relevância da culpa em sede de imputação objetiva. Isto é, a partir do momento em que o agente atua de forma dolosa, encabeçando uma esfera de risco, as exigências comunicadas em sede do que tradicionalmente era entendido como o nexo de causalidade atenuam-se. Acresce que, ainda que a previsibilidade releve a este nível, o ponto de referência dela será diferente relativamente ao da culpa. Assim, a previsibilidade de que se cura deve ser entendida como cognoscibilidade do potencial lesante da esfera de risco que assume, que gera ou que incrementa. Ela não tem de se referir a todos os danos eventos. Designadamente, não terá de se referir aos danos subsequentes ou àqueles que resultem do agravamento da primeira lesão. Por isso, quando afirmamos que, ao nível da primeira modalidade de ilicitude, a culpa tem de se referir ao resultado, acompanhamos, entre outros, autores como Lindenmaier, Von Caemmerer ou Till Ristow, para sustentar que a previsibilidade que enforma a culpa deve recuar, no seu ponto referencial, até ao momento da edificação da esfera de risco que se passa a titular. Assim, para que haja imputação objetiva, tem de verificar-se a assunção de uma esfera de risco, donde a primeira tarefa do julgador será a de procurar o gérmen da sua emergência. São-lhe, por isso, em princípio, imputáveis todos os danos que tenham a sua raiz naquela esfera, donde, a priori, podemos fixar dois polos de desvelação da imputação: um negativo, a excluir a responsabilidade nos casos em que o dano se mostra impossível (impossibilidade do dano), ou por falta de objeto, ou por inidoneidade do meio; outro positivo, a afirmá-la diante de situações de aumento do risco.
Exclui-se a imputação quando o risco não foi criado (não criação do risco), quando haja diminuição do risco e quando ocorra um facto fortuito ou de força maior. Impõe-se, ademais, a ponderação da problemática atinente ao comportamento lícito alternativo. Em termos práticos, não há unanimidade no tocante ao significado da invocação de um comportamento lícito alternativo. Se muitos advogam a sua procedência, baseando-se para o efeito na ideia de que, nestes casos, a ilicitude não teria cumprido a sua verdadeira função como elemento crucial de edificação do dever de indemnizar, outros parecem remeter a relevância dele para o âmbito da finalidade de protecção da norma, ficando a solução concreta dependente desse escopo. Seja como for, e independentemente das posições particulares que vão sendo firmadas, descontadas as tentativas de abordagem do tema à lupa da causalidade hipotética, é na ligação ao requisito da ilicitude que se joga o cerne da problemática. E por isso entende-se que, ultrapassada a visão mais ortodoxa dela, a sua mobilização surja com particular acuidade ao nível da segunda modalidade de ilicitude. A descoberta da falta de relevância da norma violada para a emergência do dano vem mostrar, afinal, que a intencionalidade normativa do caso não é assimilada pela intencionalidade normativa daquela. Do que se trata é de saber se o dano teria tido lugar sensivelmente do mesmo modo, no mesmo tempo e nas mesmas condições ainda que a preterição do dever não se tivesse verificado. Ou dito de outro modo, pergunta-se em que medida a conduta conforme ao direito teria diminuído de forma significativa o risco de realização do evento lesivo, quebrando-se, em caso de resposta afirmativa, o nexo de ilicitude que se começava a desenhar com a violação normativa. Se nos afastarmos do quadro da segunda modalidade de ilicitude delitual e nos deixarmos orientar pela ilicitude desvelada por via da lesão de direitos subjetivos absolutos, facilmente nos aperceberemos da dificuldade de mobilização de um comportamento lícito alternativo. Na verdade, se a ilicitude fica confinada à violação do bem jurídico, isto é, ao resultado, não faz sentido falar-se de uma alternativa lícita. Arredado que esteja o formalismo, sabemos que – embora perspetivado na ótica do resultado - o ilícito tem subjacente a si uma conduta, traduzindo-se a ligação entre estes dois elementos no nexo de imputação que estamos a erigir.
Adequadamente compreendida a ação, conformada pela liberdade do sujeito, inseparável da correspondente responsabilidade, a conexão de que falamos não é matizada pela nota da exterioridade, mas predica-se na interioridade do dever. E traduz-se, em termos práticos-normativos, na constatação da assunção de uma esfera de risco, indagando-se, posteriormente, acerca da pertinência do dano àquele círculo de responsabilidade que se encabeça. Se a simples possibilidade é bastante para se integrar a lesão na esfera gerada ou incrementada, então é, em teoria, possível conceber que o lesante venha provar que o mesmo dano teria sido causado mesmo que o comportamento tivesse sido outro. Note-se, obviamente, que em rigor não estaria em julgamento um comportamento lícito alternativo, porquanto, ao não se estabelecer a conexão que buscamos, é o próprio nexo de ilicitude que falece e, consequentemente, o carácter ilícito do resultado. Não se trata de apurar da relevância negativa de uma causalidade hipotética, mas de saber se o lesante logrará afastar a sua responsabilidade ao provar a irrelevância do comportamento para a emergência do dano.
Pressuposta que seja a finalidade primacial do ressarcimento como a reparação, e não esquecido que o sentido pessoalista da responsabilidade não nos pode afastar da determinação do agente, torna-se simples o sentido da solução. Deve-se, de facto, admitir a invocação do comportamento conforme ao direito como expediente de exclusão da imputação que se traça. A este nível colhe a invocação do comportamento alternativo conforme ao direito, porque, ao mostrar que a lesão surgiria do mesmo modo independentemente da licitude ou ilicitude do comportamento, consegue-se obter a prova do não incremento do risco. No fundo, o lesante demonstra que o dano que emerge não se conexiona funcionalmente com a esfera de responsabilizadade atualizada a partir da obliteração dos deveres de conduta. A dificuldade passa, portanto, a ser outra, qual seja a de saber qual a prova que deve ser oferecida pelo obrigado a indemnizar. O julgador só deve recusar a imputação quando haja prova da efetiva causa do dano ou quando haja prova da elevada probabilidade de que a lesão se teria realizado mesmo sem o desvio na conduta. Note-se que o grau de probabilidade de que aqui se fala deve andar próximo da certeza, o que se entende se se considerar que a assunção da esfera de risco coenvolve igualmente o risco processual.
Na indagação da pertinência funcional da lesão do direito à esfera de responsabilidade que se erige e assume, importa ter sempre presente que esta é mais ampla que o círculo definido pela culpa, como atrás se constatou. Contudo, pese embora a ideia da extrapolação da vontade que acompanha o resultado, há que ter em conta, no juízo imputacional, uma ideia de controlabilidade do dado real pelo agente. Esta controlabilidade há-de, pois, ser entendida no sentido da evitabilidade do evento lesivo. Com isto, exclui-se a possibilidade de indemnização dos danos que resultem de acontecimentos fortuitos ou de casos de força maior. No fundo, o que se procura com as categorias é retirar da esfera de risco edificada algumas das consequências que, pertencendo-lhe em regra, pela falta de controlabilidade (inevitabilidade, extraordinariedade, excecionalidade e invencibilidade), não apresentam uma conexão funcional com o perigo gerado. Note-se, porém, que a judicativa decisão acerca da existência ou não de um facto fortuito ou caso de força maior poderá implicar, em vez de uma estanque análise das características elencadas, um cotejo de esferas de risco. De facto, poderá haver situações em que o pretenso lesante não tem controlo efetivo sobre a situação que gera o dano, mas pode e deve minorar os efeitos nefastos dela. Com isto, mostramos que não é ao nível da culpa que as duas categorias derramam a sua eficácia. No entanto, isso não nos leva a optar inexoravelmente por uma perspetiva que as funde no conceito de causalidade. Num dado sentido, o facto fortuito e a força maior retiram do núcleo de responsabilidade do lesante o resultado verificado. Num outro sentido, reclamam a repartição de esferas de risco, convidando-nos a um cotejo entre elas. Abre-se, portanto, o segundo patamar da indagação “causal” do modelo que edificamos.
Contemplando, prima facie, a esfera de risco geral da vida, diremos que a imputação deveria ser recusada quando o facto do lesante, criando embora uma esfera de risco, apenas determina a presença do bem ou direito ofendido no tempo e lugar da lesão do mesmo. O cotejo com a esfera de risco natural permite antever que esta absorve o risco criado pelo agente, porquanto seja sempre presente e mais amplo que aquele. A pergunta que nos orienta é: um evento danoso do tipo do ocorrido distribui-se de modo substancialmente uniforme nesse tempo e nesse espaço, ou, de uma forma mais simplista, trata-se ou não de um risco a que todos - indiferenciadamente - estão expostos?
O confronto com a esfera de risco titulada pelo lesado impõe-se de igual modo. São a este nível ponderadas as tradicionais hipóteses da existência de uma predisposição constitucional do lesado para sofrer o dano. Lidando-se com a questão das debilidades constitucionais do lesado, duas hipóteses são cogitáveis. Se elas forem conhecidas do lesante, afirma-se, em regra, a imputação, exceto se não for razoável considerar que ele fica, por esse especial conhecimento, investido numa posição de garante. Se não forem conhecidas, então a ponderação há-de ser outra. Partindo da contemplação da esfera de risco edificada pelo lesante, dir-se-á que, ao agir em contravenção com os deveres do tráfego que sobre ele impendem, assume a responsabilidade pelos danos que ali se inscrevam, pelo que haverá de suportar o risco de se cruzar com um lesado dotado de idiossincrasias que agravem a lesão perpetrada. Excluir-se-á, contudo, a imputação quando o lesado, em face de debilidades tão atípicas e tão profundas, devesse assumir especiais deveres para consigo mesmo. A mesma estrutura valorativa se mobiliza quando em causa não esteja uma dimensão constitutiva do lesado, mas sim uma conduta dele que permita erigir uma esfera de responsabilidade, pelo que, também nos casos de um comportamento não condicionado pelo seu biopsiquismo, a solução alcançada pelo cotejo referido pode ser intuída, em termos sistemáticos, a partir da ponderação aqui posta a nu. Há que determinar nestes casos em que medida existe ou não uma atuação livre do lesado que convoque uma ideia de autorresponsabilidade pela lesão sofrida. Não é outro o raciocínio encetado a propósito das debilidades constitucionais dele, tanto que a imputação só é negada quando se verifique a omissão de determinados deveres que nos oneram enquanto pessoas para salvaguarda de nós mesmos.
Não se estranha, por isso, que o pensamento jurídico - mormente o pensamento jurídico transfronteiriço - tenha gizado como critério guia do decidente o critério da provocação. Tornam-se, também, operantes a este nível ideias como a autocolocação em risco ou a heterocolocação em risco consentido, de que lançámos mão para a compreensão do problema concreto decidido no acórdão em comentário.
O juízo comparatístico encetado e justificado não dista sobremaneira pelo facto de a titularidade da segunda esfera de risco, concorrente com aquela, vir encabeçada por um terceiro. A triangular assunção problemática a que nos referimos leva implícita uma prévia alocação imputacional, posto que ela envolve que, a jusante, se determine que o comportamento dele não é simples meio ou instrumento de atuação do primeiro lesante. Donde, afinal, o que está em causa é a distinção entre uma autoria mediata e um verdadeiro concurso de esferas de risco e responsabilidade, a fazer rememorar a lição de Forst, embora não a acolhamos plenamente. O segundo agente, que causa efetivamente o dano sofrido pelo lesado, não tem o domínio absoluto da sua vontade, ou porque houve indução à prática do ato, ou porque não lhe era exigível outro tipo de comportamento, atento a conduta do primeiro agente (o nosso lesante, a quem queremos imputar a lesão). Neste caso, ou este último surge como um autor mediato e é responsável, ou a ulterior conduta lesiva se integra ainda na esfera de responsabilidade por ele erigida e a imputação também não pode ser negada.
Maiores problemas se colocam, portanto, quando existe uma atuação livre por parte do terceiro que conduz ao dano. Há, aí, que ter em conta alguns aspetos. Desde logo, temos de saber se os deveres do tráfego que coloram a esfera de risco/responsabilidade encabeçada pelo lesante tinham ou não por finalidade imediata obviar o comportamento do terceiro, pois, nesse caso, torna-se líquida a resposta afirmativa à indagação imputacional. Não tendo tal finalidade, o juízo há-de ser outro. O confronto entre o círculo de responsabilidade desenhado pelo lesante e o círculo titulado pelo terceiro - independentemente de, em concreto, se verificarem, quanto a ele, os restantes requisitos delituais - torna-se urgente e leva o jurista decidente a ponderar se há ou não consumpção de um pelo outro. Dito de outro modo, a gravidade do comportamento do terceiro pode ser de molde a consumir a responsabilidade do primeiro lesante. Mas, ao invés, a obliteração dos deveres de respeito - deveres de evitar o resultado - pelo primeiro lesante, levando à atualização da esfera de responsabilidade a jusante, pode implicar que a lesão perpetrada pelo terceiro seja imputável àquele. Como fatores relevantes de ponderação de uma e outra hipótese encontramos a intencionalidade da intervenção dita interruptiva e o nível de risco que foi assumido ou incrementado pelo lesante.
b) Consequências do entendimento proposto
Compreendida a categoria da autocolocação em risco sob o prisma da imputação, importa sublinhar que, do ponto de vista do direito positivo, este aspeto específico do modelo por nós cogitado recebe acolhimento ao nível do artigo 570º CC. Na verdade, este preceito não deve ser entendido, segundo a melhor doutrina, em termos de culpa - até pela dificuldade de se falar de culpa em relação a si mesmo - ou em termos de causalidade estrita (sob pena de se tornar incongruente a solução por si consagrada, já que a conduta do lesado ou interromperia ou não o nexo etiológico conducente ao dano, não fazendo sentido falar-se de uma diminuição da indemnização, como consequência daquele comportamento). Pelo contrário, deve ser compreendido à luz de uma ideia de imputação. Por outro lado, se assim é, e tendo em conta a diferença traçada entre o primeiro dano (dano evento ou lesão do direito/interesse, consoante a modalidade de ilicitude concretamente em causa) e o dano subsequente (dano consequência), haveremos de considerar que a conduta “culposa” do lesado releva não só quando em causa esteja o agravamento dos prejuízos sofridos, mas também a potenciação da lesão do direito. Acresce que, embora a solução pensável no quadro da responsabilidade extracontratual - quando concorram várias esferas de risco para a produção do dano - seja a solidariedade obrigacional, estando em causa um concurso entre a conduta do lesado (entendida em termos amplos) e a conduta do lesado, operar-se-á, por via legal, de imediato uma compensação (entendida em termos não técnico-jurídicos), que determinará a possível diminuição da responsabilidade, como alternativa à sua exclusão.
Quer isto dizer que, se adequadamente virmos no comportamento do futebolista um caso de autocolocação em risco, a responsabilidade não fica automaticamente excluída. A solução pode ser a sua exclusão ou diminuição, consoante as circunstâncias do caso e o cotejo comparativo da esfera de risco que o lesado assume no confronto com a esfera de risco do lesante.
Já não será assim no caso de consentimento do lesado. Parece ser uma exigência inolvidável do direito não considerar desvalioso o comportamento do sujeito que obtém o consentimento deste para agir. Se é certo que nem todas as causas de exclusão da ilicitude podem ser compreendidas neste sentido23, reconduzindo-se algumas a um sentido de imputação que se perde ou se atenua, o consentimento parece reconduzir-se à magna ideia de autorização para agir, não se confundindo com as hipóteses de autocolocação em risco.
Nessa medida, poderá não ser a mesma a solução se, perante um determinado tipo de desporto, se concluir que o lesado efetivamente prefigurou a lesão e consentiu na sua ocorrência. Esta tem sido, aliás, a posição doutrinal e jurisprudencial na matéria, ao cindir o futebol de outras práticas desportivas, como o boxe ou os desportos radicais e motorizados.
Nesse caso, haveria, contudo, de determinar - também consoante as especificidades da situação sub iudice - se tal consentimento deveria ou não ser considerado válido.
O presente comentário será publicado no n.º 6 da Revista AB INSTANTIA – Revista do Instituto do Conhecimento AB, 2016 (por solicitação do Instituto do Conhecimento da Abreu Advogados).
____________________________
1 Pires de Lima/Antunes Varela, Código Civil anotado, vol. I, 4ª edição, 2010, 337.
2 Maria Clara Sottomayor, “A responsabilidade civil dos pais pelos factos ilícitos praticados pelos filhos menores”, Boletim da Faculdade de Direito, vol. LXXI, 1995, 408-409; no mesmo sentido, Antunes Varela, Das obrigações em geral, vol. I, Almedina, Coimbra, 2003, 591.
3 Henrique Sousa Antunes, Responsabilidade civil dos obrigados à vigilância de pessoa incapaz, UCP, 2000, 230 s.
4 Sobre o artigo 491º CC, cf. Henrique Sousa Antunes, Responsabilidade civil dos obrigados à vigilância; Maria Clara Sottomayor, “A responsabilidade civil dos pais pelos factos ilícitos praticados pelos filhos menores”, 403 s.; Adriano Vaz Serra, “Responsabilidade de pessoas obrigadas a vigilância”, Boletim do Ministério da Justiça nº 85, 410 s.; António Miguel Veiga, Terá sentido a responsabilidade civil in vigilando dos progenitores, conexa com crime sexual praticado por filho menor penalmente imputável?, 2015, (inédito).
5 Pires de Lima/Antunes Varela, Código Civil anotado, vol. I, 337.
6 Ana Maria Fonseca, “Responsabilidade civil pelos danos causados pela ruína de edifícios e outras obras”, Novas Tendências da Responsabilidade Civil, Almedina, Coimbra, 2007, 94. No que respeita a saber quem é o possuidor para estes efeitos cf. pág. 98 s. Em relação aos comproprietários e aos comproprietários das partes comuns dos edifícios sujeitos à propriedade horizontal, cf. pág. 103.
7 Ana Maria Fonseca, “Responsabilidade civil pelos danos causados pela ruína de edifícios e outras obras”, 96.
8 Ana Maria Fonseca, “Responsabilidade civil pelos danos causados pela ruína de edifícios e outras obras”, 105. Acerca do locatário, cf. pág. 106.; do empreiteiro, cf. pág. 107 s.
9 Sobre o ponto, cf. Ana Maria Fonseca, “Responsabilidade civil pelos danos causados pela ruína de edifícios e outras obras”.
10 Sobre o ponto, cf. Mafalda Miranda Barbosa, Estudos a propósito da responsabilidade objetiva, Princípia, 2014.
11 Cf. Antunes Varela, Das obrigações, 593 s.
12 Cf. Acórdão da Relação de Lisboa, de 6 de Junho de 1995, Colectânea de Jurisprudência, 1995, tomo III, 127; Acórdão da Relação de Lisboa de 4 de Abril de 1989, Colectânea de Jurisprudência, 1989, Tomo III, 119; Acórdão de 4 de Novembro de 1990, Boletim do Ministério da Justiça, nº400, 715; Acórdão da Relação de Coimbra de 30 de Janeiro de 2001 [www.dgsi.pt]; Ac Relação de Lisboa de 30 de Maio de 1996 [www.dgsi.pt]; Acórdão da Relação de Lisboa de 26 de Novembro de 1993 [www.dgsi.pt]; Acórdão da Relação de Lisboa de 18 de Março de 1999; Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 3 de Fevereiro de 1976, Boletim do Ministério da Justiça, nº254, 185; Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 25 de Janeiro de 1978, Boletim do Ministério da Justiça, nº273,260
13 Cf. Jorge Figueiredo Dias/Jorge Sinde Monteiro, “Responsabilidade médica em Portugal”, Boletim do Ministério da Justiça, nº332, 45; Sinde Monteiro e Maria Manuel Veloso, Portugal”, Cases on Medical Malpractice in a Comparative Perspective, Tort and Insurance Law, vol. I, Springer, Wien, New York, 2001, (Michael Faure e Helmut Koziol, eds.), 177; Luís Filipe Pires de Sousa, O ónus da prova na responsabilidade civil médica. Questões processuais atinentes à tramitação deste tipo de acções (competência, instrução do processo, prova pericial)”, http://www.cej.mj.pt/cej/forma-ingresso/fich.pdf/arquivo-documentos/form.cont.responsabilidade.civil.por.acto.medico.pdf.
Cf., igualmente, Mafalda Miranda Barbosa, "Notas esparsas sobre responsabilidade civil médica. Anotação ao Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 22 de Maio de 2003", Lex Medicinae Revista Portuguesa de Direito da Saúde, ano 4, nº7, 2007, 119-150 e Álvaro Gomes Rodrigues, “Reflexões em torno da responsabilidade civil dos médicos”, Revista Direito e Justiça, XIV, 2000, 209 s.
14 Isto não obsta ao reconhecimento de que o sujeito lança mão de uma atividade que comporta um risco superior ao socialmente tido por aceitável. Simplesmente, essa constatação normativa (que serve de fundamento à solução plasmada no preceito) projeta-se, em termos estruturais, e atenta a presunção referida, numa projeção da faute napoleónica. Ora, na interpretação do preceito – pelo confronto com o caso concreto – haveremos de estabelecer um juízo de cariz analógico que não pode deixar de ter em conta esse aspeto estrutural que, afinal, evidencia o fundamento da presunção.
15 Cf. Hans Stoll, Handeln auf eigene Gefahr, Mohr, Tübingen, 1961; Gert Brüggemeier, Haftungsrecht. Struktur, Prinzipen, Schutzbereich zur Europäisierung des Privatrechts, Springer, Berlin, Heidelberg, New York, 2006, 590 s., referindo-se às situações em que o lesado, pela sua própria negligência - mitverschulden - ou através de um perigo que controla - mitgefährdung -, participa na lesão ou amplia danos que são imputáveis, e aproximando-as da chamada conduta em seu próprio risco (Handeln auf eigene Gefahr), para as quais olha como “uma forma invertida de responsabilidade objetiva”, por não ser “contestada a decisão individual e racional de se assumir ou não um risco”, embora se deva aí ter particular atenção à posição dos incapazes; Deutsch, “Die Mitspielerverletzung im Sport”, Versicherungsrecht, 1974, 1054 e ss.; Id., Allgemeines Haftungsrecht, 2. völlig neugestaltete end erw. Aufl., Carl Heymanns Köln, Berlin, Bonn, München, 1996, 375 (considerando que a figura pode ser convocada em três grandes grupos: a) participação em viagens; b) eventos perigosos; c) intromissão em propriedade ou instalações alheias. Para uma análise do Handeln auf eigene Gefahr no âmbito da prática desportiva, cf. págs. 377 s.; no âmbito da responsabilidade médica, pág. 379. Note-se que o autor propõe a ponderação da analogia com o § 254 BGB, invocando para o efeito a alteração do princípio Alles-oder Nichts. Sublinhe-se, ainda, a comparação com o consentimento do lesado - pág. 375); Zimmermann, “Verletzungserfolg, Spielregeln und allgemeines Sportrisiko”, Versicherungsrecht, 1980, 497 s.; Hermann Lange/Gottfried Schiemann, Handbuch des Schuldrechts, Schadensersatz, 3. Aufl., Mohr, Tübingen, 2003, 642 s., realçando a diferença que separa a Handeln auf eigene Gefahr (ação em seu próprio risco) e a schuldhafte Selbstgefährdung (autocolocação culposa em risco) e mostrando que a segunda designação é preferível, ao mesmo tempo que indaga se, por via do Selbstgefährdung, se exclui a ilicitude (Rechtswidrigkeitszusammenhang) ou a culpa; Dunz, “ “Reiter wider Pferd oder Versuch einer Ehrenrettung des Handelns auf eigene Gefahr”, Juristenzeitung, 1987, 63 s.; Teichmann, “§ 823 BGB und die Verletzung eines anderen im Sport”, Juristische Arbeitsblätter, 79, 293 s.; Herbert Messer, “Haftungseinheit und Mitverschulden”, Juristenzeitung, 34, Heft 11/12, 1979, 385 s.
Não se deve confundir a invocação do critério do comportamento no seu próprio risco (Handeln auf eigene Gefahr) com a tentativa de explicação de casos de responsabilidade independente de culpa. Cf., a este propósito, José Pinto Coelho, A responsabilidade civil baseada no conceito de culpa, 1906, 99 s., em análise do pensamento de Unger, que o erige em fundamento da responsabilidade por um dano causado diretamente por uma pessoa a outra, praticando em relação a esta um ato lícito, da responsabilidade por danos causados por uma pessoa indiretamente a terceiro mediante um ato lícito e da responsabilidade pelos danos causados a um terceiro por uma pessoa que atua no interesse de outra - cf., na obra do jurista português, pág. 100. Pinto Coelho evidencia que o critério não explica os danos causados por omissão, nem todos os outros casos em que não se realize uma atividade. Acresce que o critério se confunde com o elemento subjetivo da culpa, uma vez que “proceder arriscadamente ou com perigo não é muito diferente de proceder imprudentemente” (cf. pág. 102). De Unger, cf. Handeln auf eigene Gefahr: ein Beitrag zur Lehre von Schadensersatz, 3. unveränderte Auflage, Gustav Fischer Verlag, Jena, 1904.
16 Cf. Karl Larenz, Lehrbuch des Schuldrechts I, Allgemeiner Teil, 14 Auflage, Verlag C. H. Beck, München, 1987, 467 s. Dando conta disso mesmo, v. Hermann Lange/Gottfried Schiemann, Handbuch des Schuldrechts, Schadensersatz, 3. Aufl., Mohr, Tübingen, 2003, 641. Cf., também, Deutsch, Allgemeines Haftungsrecht, 2. völlig neugestaltete end erw. Aufl., Carl Heymanns Köln, Berlin, Bonn, München, 1996, 375.
A este propósito, veja-se, ainda, Christophe Quézel-Ambrunaz, Essai sur la causalité en droit de la responsabilité civile, Dalloz, 2010, 491 s. Falando do efeito da vontade na responsabilidade extracontratual, no quadro do que fala do problema da faute da vítima, o autor afirma que a aceitação dos riscos e a faute da vítima se distinguem por via da noção de causalidade. É que, em rigor, a aceitação dos riscos não constitui uma explicação do prejuízo, ideia central na teoria da causalidade do autor, pelo que se afigura impossível que, através dela, se possa operar a total liberação da responsabilidade por parte do responsável. Numa outra perspetiva, que ali encontramos, a aceitação do risco pelo lesado seria apenas uma ocasião do dano. Para Quézel-Ambrunaz, o problema estabelece pontes de analogia com as cláusulas de limitação da responsabilidade no plano contratual. Para ele, “a vítima, ao aceitar os riscos de uma atividade, admite que o risco que se realiza seja entendido como a consequência da sua participação naquela atividade, e não como aquela do facto do criador do risco”. Em causa estaria a possibilidade de influenciar, pela vontade, a determinação das causas do prejuízo, designadamente pela aceitação de um risco. Nesta medida, aduz o autor que a aceitação dos riscos só pode relevar em casos de surgimento de um evento incerto aquando da sua realização. Os mecanismos em apreço não são chamados a depor em caso de faute ou quando o atentado à vítima é voluntário (o dolo surgiria, pois, como limite de operacionalidade do expediente). Sublinhe-se, in fine, que o discurso do jurista se integra no âmbito do problema da determinação do quantum da reparação.
17 Debate-se, na verdade, sob formulações não coincidentes, se a invocação delas determina a exclusão da responsabilidade do lesante ou dá origem à redução da indemnização, de acordo com a contribuição daquele e do lesado.
18 Cf., uma vez mais, Hermann Lange/Gottfried Schiemnann, Handbuch des Schuldrechts, 643
19 Sobre o ponto, cf. Martín Garcia-Ripoll Montijano, Imputación objetiva, causa próxima y alcance de los daños indemnizables, Editorial Comares, Granada, 2008, 211 s. Vejam-se, ainda, os exemplos apresentados pelo autor a págs. 40 s. Tratando do problema da cooperação na autocolocação em perigo dolosa, Montijano aborda alguns casos: A aconselha B e atravessar um lago coberto de gelo quebradiço e B morre, questionando-se se A pode ser responsabilizado; A encontra-se em perigo e B vai salvá-lo, enfrentando, com isso, o perigo. Note-se como, sob uma epígrafe comum, se acolhem hipóteses eivadas de uma intencionalidade problemática diversa. Sobretudo importa frisar que teríamos aqui de lidar com a cisão por nós traçada em texto, que visa determinar em que medida o comportamento do lesado se pode considerar livre. Oportunidade, ainda, para nos falar da colocação em perigo alheia consentida, alertando para o facto de a doutrina maioritária procurar a solução do problema no quadro do consentimento do lesado, o que não deixa de concitar dúvidas, porque quem consente no perigo não consente no resultado, fazendo este parte integrante da ilicitude.
V. pág. 45, onde o autor relata o exemplo do contágio com o vírus do HIV: há responsabilidade quando o infetado não alerta o seu parceiro sexual; deixa de se imputar o resultado àquele se o último tem pleno conhecimento do risco e o aceita.
Sublinhe-se, então, para além de uma primeira aproximação a certos conceitos, que para a contemplação deles, o autor procura saber em que medida a atuação do lesado foi ou não livre, mostrando-nos, assim, a íntima relação entre a autocolocação em risco e a titularidade de uma esfera de responsabilidade.
20 Para outros desenvolvimentos, cf. Mafalda Miranda Barbosa, Do nexo de causalidade ao nexo de imputação: contributo para a compreensão da natureza binária e personalística do requisito causal ao nível da responsabilidade civil extracontratual, Princípia, 2013 e Responsabilidade civil extracontratual: novas perspetivas em matéria de nexo de causalidade, Princípia, 2014.
21 Problematizar-se-á, portanto, sempre que a nossa perspetiva se centre na lesão de um direito subjetivo absoluto, seja ela uma lesão primária ou subsequente à prévia lesão de outro direito absoluto.
22 Sobre o ponto, cf. Mafalda Miranda Barbosa, Do nexo de causalidade ao nexo de imputação: contributo para a compreensão da natureza binária e personalística do requisito causal ao nível da responsabilidade civil extracontratual, Princípia, 2014.
Cf. Traeger, Der Kausalbegriff im Straf und Zivilrecht, Elwert, Malburg, 1904, 219; Esser/Schmidt, Schuldrecht I Allgemeiner Teil, Teilband 1, 8 Aufl., 1995, 210 (cf. também pág. 521, afirmando que o nexo de causalidade cumpre uma função positiva de imputação e uma função negativa de delimitação dos danos); Larenz, Lehrbuch, I, 432; Enneccerus-Lehmann, Lehrbuch des bürgerlichen Rechts, Recht der Schuldverhältnisse, 15 Aufl., Mohr, Tübingen, 1958, 60; Ulrich Magnus, “Causation in german tort law”, Unification of Tort Law: causation, J. Spier (ed.), Principles of European Tort Law, vol. 4, European Centre of Tort and Insurance Law, Kluwer Law International, London, Boston, 2000, 63; Gert Brüggemeier, Haftungsrecht, 545 s.; Fikentscher, Schuldrecht, 9 Aufl., De Gruyter, Berlin, New York, 1997, 290-292 (Cf., também, Fikentscher/Heinemann, Schuldrecht, 10 Aufl., De Gruyter, Berlin, 2006, 299 s.); Erwin Deutsch, Allgemeines Haftungsrecht, 2. völlig neugestaltete end erw. Aufl., Carl Heymanns Köln, Berlin, Bonn, München, 1996, 84 (considerando, ademais, que a causalidade fundamentadora da responsabilidade não necessita de ser adequada, não tendo de se verificar o requisito da adequação também ao nível das disposições de proteção de interesses alheios); Hermann Lange, Gottffried Schiemann, Handbuch des Schuldrechts. Schadenersatz, 3 Aufl., Mohr, Tübingen, 2003, 77 s.; Hennig Löwe, Der Gedanke der Prävention im deutschen Schadensersatzrecht. Die Flucht in den Geldersatz immaterieller Schäden. Zugleich eine Besprechung der Caroleine - Urteil des Bundesgerichtshofs und des Draehmpaehl - Urteil des Europäischen Gerichtshofs, Peter Lang, Europäische Hochschuldschriften, Reihe II, Rechtsissenschaft, Frankfurt, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien, 1999/2000, 106, 115 e 230 s.; Hans Stoll, Haftungsfolgen im bürgerlichen Recht. Eine Darstellung auf rechtsvergleichender Grundlage, C.F. Müller, Heidelberg, 1993, 392 s.; Cees Van Dam, European Tort Law, 270 s.; B. Winiger/H. Koziol/B.A.Koch/R. Zimmermann (eds.), Digest of European Tort Law, vol. 1, Essential Cases on Natural Causation, Springer, Wien, New York, 2007, 7 e 593 s.; Kramer, “Schutzgesetze und adäquate Kausalität“, Juristenzeitung, 31, Heft 11/12, 1976, 338 s., onde, estabelecendo-se a mesma distinção, o autor fala de Folgesschäden como sinónimo de haftungsausfüllende Kausalität; Gotzler, Rechtsmässiges Alternativverhalten im haftungsbegründenden Zurechnungszusammenhang, Beck, München, 1977, 101 s.; Fritz Lindenmaier, „Adäquate Ursache und nächste Ursache. Zur Kausalität im allgemeinen bürgerlichen Recht und in den Allgemeinen Deutschen Seeverischerungsbedingungen“, Festschrift für Wüstendörfer , Zeitschrift für das Gesamte Handelsrecht und Konkursrecht, Hundertdreuzehnter Band (113), 1950, 207 s., em especial pág. 214 s. (distinguindo a dupla função da causalidade: haftungsauslösender Kausalität e haftungsbegründende Kausalität); Ulrich Huber, „Normzwecktheorie und Adäquanztheorie. Zugleich eine Besprechung des Urteils des BGH v. 7.6.1968“, Juristenzeitung, 21, 1969, 678; Gregor Christandl, „BHG, 12 febbraio 2008, VI ZR 221/06 (OLG Saarbrücken) - Responsabilità medica: causalità e onere della prova nel diritto tedesco“, Persona e Danno, www.personaedanno.it/cms/data/articoli/010849.aspx; Hein Kötz/ Gerhard Wagner, Deliktsrecht, 11. neu bearbeitete Auflage, Verlag Franz Vahlen, München, 2010, 59; Stephan Philipp Forst, Grenzen deliktischer Haftung bei psychisch Vermittelter haftungsbegründender Kausalität, Rechtswissenschaftliche Forschung und Entwicklung, München, 2000, 25-26.
No quadro da doutrina portuguesa, veja-se, igualmente, Carneiro da Frada, Contrato e deveres de protecção, Separata do Boletim da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Coimbra, 1994, 337, Teoria da confiança e responsabilidade civil, Almedina, Lisboa-Porto, 2003, 304; e Direito Civil/Responsabilidade civil. O método do caso, Almedina, Coimbra, 2006, 100; Brandão Proença, A conduta do lesado como pressuposto e critério de imputação do dano extracontratual, Almedina, Coimbra, 1997, 429-430; Cunha Gonçalves, Tratado de Direito Civil em comentário ao Código Civil Português, Coimbra, 1929, XII, 441; Ribeiro de Faria, Direito das Obrigações, vol. I, reimpressão, Almedina, Coimbra, 2003, 507; Pitta e Cunha, Omissão e dever de agir em direito civil. Contributo para uma teoria geral da responsabilidade civil por omissão, Almedina, Coimbra, 1999, 50; Gomes da Silva, O dever de prestar e o dever de indemnizar, Lisboa, 1944, 65 s.; Ana Perestrelo Oliveira, Causalidade e imputação na responsabilidade civil ambiental, Almedina, Coimbra, 2007, 67, n. 157 [não considerando a distinção, refere-se, contudo, expressamente a ela]; Pedro de Albuquerque, Responsabilidade processual por litigância de má fé, abuso de direito e responsabilidade civil em virtude de actos praticados no processo, Almedina, Coimbra, 2006, 143, n. 426 [em sentido crítico]; e, com grande desenvolvimento (bem como com uma extensa lista de referências bibliográficas), Paulo Mota Pinto, Interesse contratual negativo e interesse contratual positivo, volume I e II, Coimbra, Coimbra Editora, 2008, 640 s., 924 s., nota 1834. Considerando que a formulação rigorosa dela suscita problemas, a que não é imune a própria relevância da cisão (v. pág. 924-925), vem afirmar que há vantagens claras no seu estabelecimento: permite separar o direito da responsabilidade do direito da indemnização, ao mesmo tempo que pode ser relevante para delimitar os poderes do Tribunal na decisão sobre a existência de um dano e o seu quantitativo, permitindo-se um aligeiramento da prova para a causalidade preenchedora da responsabilidade. Para Paulo Mota Pinto, a quem devemos, aliás, importantes referências bibliográficas na matéria, a “distinção não é uma determinação da natureza das coisas, mas deve ser adotada e como distinção entre dois nexos de causalidade e não apenas como um problema de causalidade e um outro de avaliação e medida dos danos” (cf. pág. 927). E deve sê-lo porque “a distinção é necessária nos casos em que a conduta do responsável não seja relevante sem mais mas apenas na medida em que preenche uma previsão legal que concede relevância a um resultado lesivo”. Ou seja, e acompanhando a fundamentação da dicotomia oferecida pelo autor, ela “compreende-se se considerarmos a necessidade delimitadora da responsabilidade segundo certas hipóteses: dada a ausência de uma responsabilidade por danos patrimoniais (isto é, dada a responsabilidade civil estar delimitada por hipóteses de responsabilidade que consideram relevantes determinadas ofensas e portanto a imediata relação entre um comportamento e certos prejuízos não ser, só por si, relevante para a sua imputação juridicamente relevante), a admissão do dever de indemnizar tem de exigir não só a relação entre o comportamento e um determinado evento lesivo integrador da responsabilidade, como a relação entre aquele e os danos a reparar”, assentando positivamente na diferença que separa a previsão do artigo 563º - referente à causalidade preenchedora da responsabilidade – da pressuposição da causalidade fundamentadora da responsabilidade contida no artigo 483º (cf. pág. 928 s. e n. 2605). Cf., ainda, pág. 640, n. 1834.
23 De forma sistemática, podemos dizer que, em geral, se encontram três possíveis fundamentos para as causas de justificação. Assim: 1) excluem o nexo de ilicitude que em concreto se deve erigir, pela transferência do risco para uma esfera diversa da do agente imediato; 2) coenvolvem uma tolerância do ordenamento jurídico; 3) conferem uma verdadeira autorização do ordenamento para agir.


